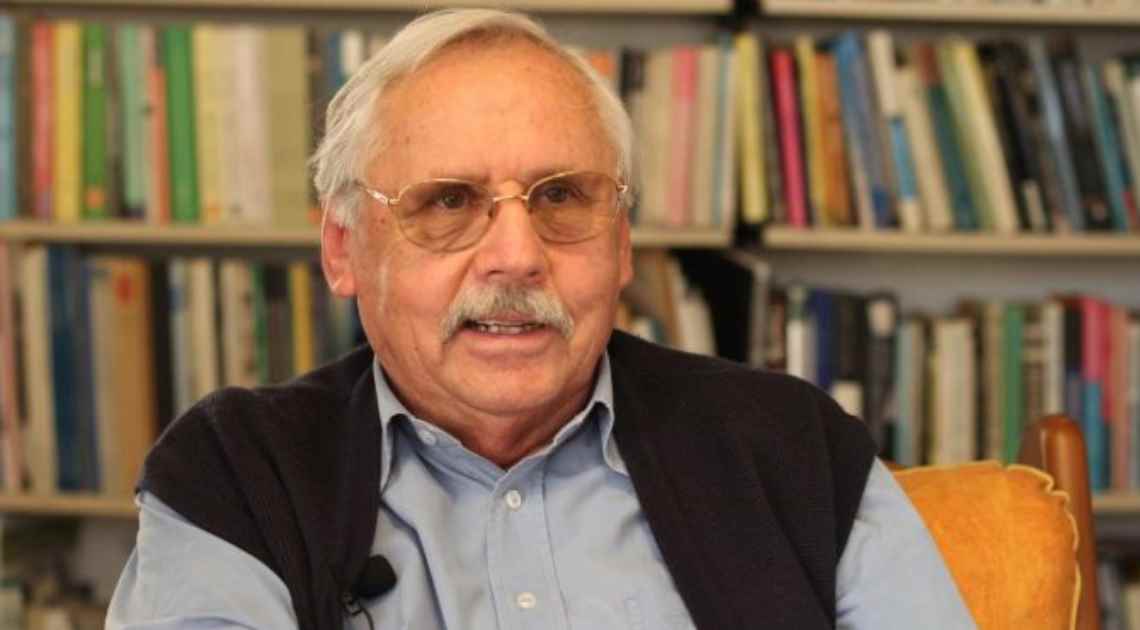Por Hélio Menezes
O registro causa enjôo. Ali está a encenação de nostalgia colonial, racista e escravocrata, congelada numa imagem que funciona como síntese da elite brasileira. A foto da festa de 50 anos de Donata Meirelles, diretora da revista Vogue, evoca e faz reviver as “cadeirinhas de carregar” do século XIX, com dois escravos ao lado de uma figura branca ao centro. Além de violenta, a versão atual da imagem é exageradamente cafona – mas aqui nos tristes trópicos a cena ganha ares de elegância, com direito a selo Vogue de qualidade. Vai entender. Mas, cá entre nós: a quem ainda surpreende a existência de uma imagem dessas? Embora absurdamente escandalosa, esse é uma cena perversamente cotidiana, recriada e naturalizada diariamente em restaurantes, lojas, clubes, academias, praças, praias, universidades, ruas e avenidas.
A imagem traz também e novamente à discussão o papel da mulher branca na ordem escravista, que persiste no longo pós-abolição que ainda vivemos: a de cúmplice do patriarcado branco. Vítima também, mas sobretudo sócia, parceira, codelinquente. Que usa mulheres negras como enfeite, decoração. Que replica a violência do machismo sobre o corpo de outras mulheres – desde que não sejam brancas, tá valendo. As violências que brotam desse registro são muitas, e só reforçam a importância e necessidade urgente de lermos e ouvirmos feministas negras (a benção, Lelia Gonzalez, Ângela Davis, Beatriz Nascimento, bell hooks, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro).
Em 24h de viralização da imagem, já vi de um tudo: houve quem se pronunciasse dizendo não ver nada demais, equiparando-a a fotos de turistas sudestinos ao lado de baianas no aeroporto de Salvador (como se fossem a mesma coisa – bom, talvez no fundo algo em comum tenham…); gente culpabilizando as moças negras por terem aceitado o trabalho (é isso mesmo: o racismo se reveste de todo tipo de loucura discursiva); mulheres brancas, algumas “aliadas” conhecidas por seu ativismo, falsamente indignadas (como se, com outras roupas e em outros contextos, não fizessem o mesmo em suas casas com babás, serventes e empregadas domésticas). Vi também muitas mulheres pretas se posicionando, denunciando o horror da cena, cobrando posicionamento, dando o nome correto (((crime de racismo))), debatendo como a cena é produto e, ao mesmo tempo, recria imaginários e práticas racistas.
Antropólogo que sou, obcecado pelo poder dos símbolos e das imagens, tive porém meu olhar capturado pelo elemento cênico que protagoniza a composição: a cadeira ao centro da foto. Trata-se de versão estilizada da cadeira pavão de vime, objeto que tornou-se emblemático dos ativismos e resistências negros. Sobretudo a partir de seu aparecimento ao centro de outra imagem, uma que veio a tornar-se icônica de toda uma geração: a fotografia de Huey P. Newton, fundador e então Ministro da Defesa do Partido dos Panteras Negras, de autoria atribuída a Blair Stapp (1967). De origem asiática, a cadeira parece ter sido escolhida por sua elegância, pelo efeito de seu rico trançado, que dialoga e replica os padrões do tapete de pele animal e dos escudos africanos que rodeiam um Huey concentrado, devidamente fardado, empunhando espingarda e lança. Foi também certamente selecionada pelo seu uso régio por reis não-europeus, por autoridades não-brancas. O registro ocupa quase todo o espaço do cartaz composto por Eldridge Cleaver (um dos intelectuais do PPN) e usado nas passeatas da campanhas “Free Huey”, pela liberdade do líder aprisionado, em fins dos anos 1960 nos EUA. A foto, compreensivelmente, logo converteu-se em emblema; e a cadeira, em insígnia de poder negro.
Nas décadas seguintes e ainda hoje, não à toa, a cadeira-trono dos Panteras Negras foi relida por diferentes personalidades pretas. Apenas 7 anos após o clássico registro de Huey, por exemplo, o objeto reaparece na capa do disco de outra rainha, Elza Soares (1974). Nos anos 1990, foi a vez de Mãe Hilda Jitolu, matriarca do bloco afro Ilê Aiyê, ser fotografada em trono similar pelas lentes de Mário Cravo Neto. No cinema, a cadeira virou personagem em produções como “Dear White People” (2014), “Kbela” (2015) e, mais recentemente, em versão afro-futurista como trono do rei T’Challa em “Pantera Negra” (2018). Na exposição Histórias Afro-Atlânticas, no Instituto Tomie Ohtake (2018), o registro de Huey Newton compunha toda uma seção de fotografias com personalidades negras entronadas, justamente sublinhando sua centralidade na construção de novas convenções visuais sobre corpos negros. O símbolo é forte demais, negro demais, ancestral demais para ser profanado por sinhazinha moderna, socialite-diretora descafeinada de revista de moda. “Não é possível”, pensei comigo, “ela não pode estar fazendo isso”. Mas como não poderia, se o desuso, posse e destruição de símbolos negros por mãos brancas é ato simbólico-prático corriqueiro desde que os primeiros colonizadores europeus pisaram em África? Há quem chame isso de “apropriação cultural”; acho o termo ambíguo, despistador, por isso o chamo pelo seu nome próprio: racismo estrutural, profanação cultural, apagamento de autoria e e autoridade negras.
No que difere, afinal, o pé do colonizador alemão sujando o trono do rei Njoya do Bamum, em registro do século XIX, das pernas cruzadas da diretora da Vogue sobre trono de tantos reis e rainhas negros, em registro de fevereiro de 2019?
–
*Agradeço a Amanda Carneiro por ter me mostrado e ensinado a história atroz que envolve da imagem de confisco do trono do rei Njoya.
Destaque: Colagem a partir de fotos existentes na postagem.