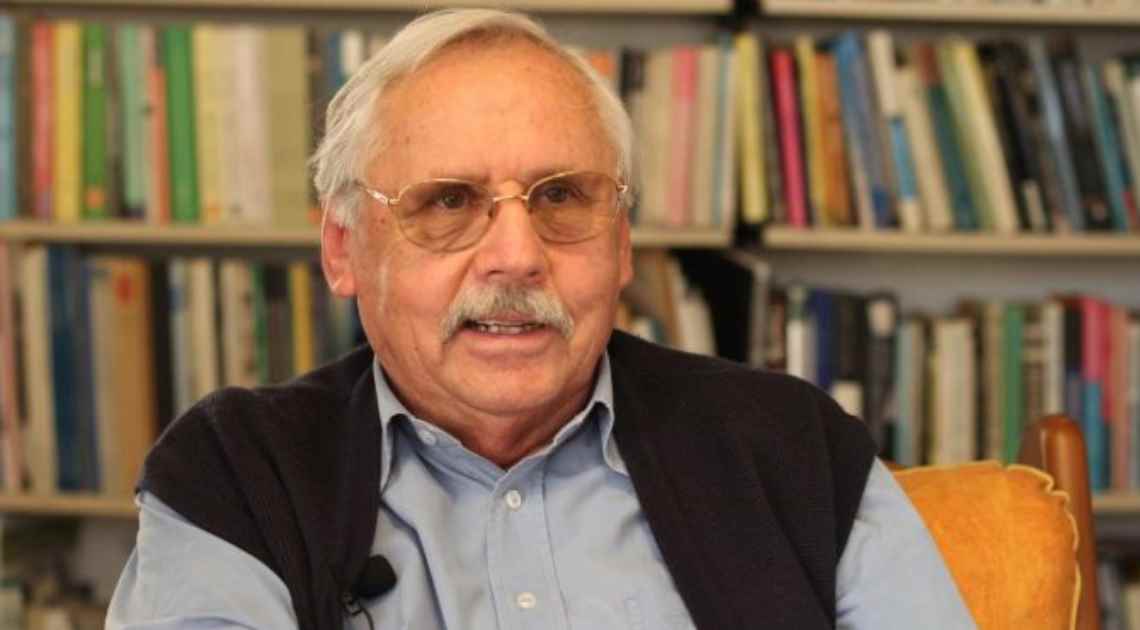Estudo feito em universidades federais de SP, MG, RS e DF se debruçou por quatro anos em registros policiais para apontar racismo dos policiais e da PM enquanto corporação. ‘Treinamento não consegue filtrar policiais racistas’, diz pesquisadora
por Caê Vasconcelos, A Ponte
Uma pessoa negra tem de cinco a sete vezes mais chance de sofrer uma punição da Polícia Militar em São Paulo e até três vezes mais em Minas Gerais. Esses dados fazem parte do estudo “Policiamento e relações raciais: estudo comparado sobre formas contemporâneas de controle do crime”, coordenado pela professora Jacqueline Sinhoretto, líder do GEVAC (Grupo de Estudos Sobre Violência e Administração de Conflitos), da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).
A longa pesquisa durou quatro anos, de 2013 a 2017, e analisou dados quantitativos de São Paulo e Minas Gerais e dados qualitativos de Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em Minas Gerais, uma pessoa negra tem entre quatro e cinco vezes mais chances de ser morta pela Polícia Militar do que uma pessoa branca. Nas prisões em flagrantes, uma pessoa negra tem entre duas e três vezes mais chance de ser presa do que uma pessoa branca.
Em São Paulo a realidade não é diferente. A taxa de letalidade policial chega a ser de três a sete vezes maior para uma pessoa negra. Nas prisões em flagrante as chances de pessoas negras serem encarceradas são de 2,2 a 2,4 maiores.
No Distrito Federal, é a ausência de dados que chama a atenção. Cerca de 99,2% dos boletins de ocorrência analisados não tinham o campo cor/raça preenchidos para prisões em flagrantes e 84,1% para registros de morte em decorrência de ação policial. Mas a pesquisa conseguiu apontar que 80,8% das vítimas da polícia tinham até 27 anos e, desses, 32,7% tinham menos de 18 anos.
Quatro universidades públicas somaram forças para chegar nos resultados de letalidade policial e prisões em flagrantes nesses locais: UFSCar, UnB (Universidade de Brasília), do Distrito Federal, PUC (Pontifícia Universidade Católica), do Rio Grande do Sul, e Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais. Ambas as universidades fazem parte do INCT-InEAC (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Estudos Comparados em Administração de Conflitos).
O estudo analisou dados quantitativos de prisões em flagrante e letalidade policial por cor e raça, além de realizar entrevistas com profundidade om policiais militares sobre polícia e racismo, para saber policiais brancos e negros, oficiais e praças, pensam sobre a temática.
À Ponte, Jacqueline Sinhoretto conta que a pesquisa deriva de trabalhos que ela já vinha fazendo desde 2013, mas encontrou dificuldades com os dados coletados. “Não conseguimos os dados em todos os estados, só em SP e MG. No RS e DF os dados quantitativos não estão disponíveis, então trabalhamos só com a parte qualitativa, que foram as entrevistas com os policiais”.
Como não há dados de abordagens policiais em nenhum dos locais estudados, os dados de prisões em flagrante deram o direcionamento necessário para os pesquisadores, apontando que a proporção dessas prisões podem ser até quatro vezes maiores para pessoas negras do que para as pessoas brancas.
Com isso, explica Sinhoretto, é possível dizer que o racismo está no trabalho dos policiais militares e na corporação da Polícia Militar. “De um lado essa técnica de trabalho, de policiamento ostensivo, dá muita margem para a subjetividade do policial. É o policial que tem que suspeitar, é muito carregado em cima das concepções dele, do corpo dele, da escuta dele, do olhar dele. A ferramenta do policial é o próprio corpo dele e com isso ele pode carregar as concepções dele”.
Nas entrevistas com os policiais militares, conta a pesquisadora, foi possível identificar que o treinamento policial não dá conta de reverter essa situação. “Os oficiais que entrevistamos falam isso: ‘o policial é recrutado em uma sociedade que é racista, não tem como a gente assegurar que pessoas racistas não serão recrutadas’”.
“O processo de formação policial não desconstrói essas ferramentas, essa forma de pensar, ele não oferece um outro modo de pensar. Nesse ponto de vista, as concepções racistas dos policiais são funcionais para o modelo do policiamento e para a produtividade policial”.
Ponte – O estudo durou três anos e foi feito por quatro universidades. Como funcionou o processo da pesquisa? Quais foram os principais resultados?
Jacqueline Sinhoretto – Não temos dados de abordagem policial, de quantas pessoas são paradas pela Polícia Militar porque não recolhem esses dados, mas temos dados de prisões em flagrante de SP e MG. Nas prisões em flagrante vimos que no estado de São Paulo pessoas negras são presas duas vezes e meia mais do que pessoas brancas em grupos de 100 mil habitantes. Não é porque tem mais pessoas negras na população, fizemos esse controle por grupos de 100 mil habitantes. Minas Gerais é parecido, em torno de dois e meio e três vezes mais. Esse número quebrado é por que depende do ano, cada ano dá um número.
No caso da letalidade policial, em MG, é de quatro a cinco vezes mais, porque tem uma diferença entre interior do estado e capital. Na capital a diferença racial é maior do que no interior do estado. Em São Paulo essa diferença vai de três vezes mais até sete vezes. No ano de 2016 deu sete vezes mais pessoas negras sendo mortas pela polícia do que pessoas brancas em SP.
Ponte – E o que esses dados evidenciam?
Jacqueline – Os dados não são sobre racismo estrutural, falam sobre o racismo na atuação policial. Perguntamos para os policiais o que eles pensam sobre esses dados e eles têm a tendência de negar que exista racismo. Eles têm uma visão de que não é a cor da pele. Quando perguntamos como é o trabalho cotidiano deles, eles falam que é um trabalho técnico, que se baseiam na fundada suspeita.
Questionamos como é essa fundada suspeita e eles começam a descrever o que eles acham que é uma atitude suspeita e geralmente se volta do olhar do policial para o corpo. É aí que a racialização acontece, porque eles olham gestos, corte de cabelo e vestimentas que caracterizam muito os grupos de jovens negros da periferia. É um boné, é uma bermuda não sei de que jeito, um certo jeito de olhar.
Eles também falam que consideram suspeita a atitude de pessoas que revelam uma preocupação com a presença da polícia ou que tentam evitar o contato com a polícia quando fazem patrulhamento. Se você faz parte de um grupo que sofre historicamente violência policial, um jovem negro, por exemplo, vê a polícia e sente incômodo, ele quer desviar porque ele conhece mil histórias de pessoas que foram violentadas. E é justamente essa apreensão do jovem negro quando vê uma guarnição policial que é considerado suspeito. Quanto mais a pessoa tem medo, quanto mais ela é portadora de uma memória de violência policial, mais ela se torna alvo de uma abordagem policial.
Ponte – Temos feito muitas reportagens sobre prisões injustas em que o relato dos policiais é nesse sentido e que a maioria das pessoas presas são negras e periféricas. Essas prisões são resultado da forma que o policial enxerga a população negra?
Jacqueline – O modelo do policiamento ostensivo, essa coisa da ronda na rua, eles procuram no indicador do corpo esses sinais do delito. Isso acaba caindo no processo da estigmatização, porque não tem como você bater o olho em uma pessoa e saber se ela cometeu o crime ou não. Eles operam esse olhar de estigma, olhar de estereótipo de perigo sobre o corpo negro. Isso abre margem para o racismo. O modelo de policiamento ostensivo está diretamente relacionado a isso porque as ferramentas de trabalho dos policiais são rústicas. O policial tem que contar com o olhar, tem que contar com o faro, tem que contar com o tirocínio.
É muito diferente em um modelo comunitário clássico, [onde o policial tem ações naquela comunidade, tem outras formas de observar as relações com potencial de violência, o policial trabalha muito mais com o diálogo, recebe informações, monitora relações. O modelo de policiamento comunitário seria uma forma de minimizar isso. Ou o modelo de polícia investigativa, que também trabalha com dados mais objetivos, com formação de evidências que possam ser usadas no Tribunal. O modelo de policiamento ostensivo não tem as características nem do modelo comunitário nem do modelo investigativo, por isso é muito propício ao recorte racial.
Infelizmente o modelo de policiamento ostensivo é o que mais cresce, é o que mais recebe investimentos, não só no Brasil, mas no mundo. Vimos isso depois da morte de George Floyd, em que mil cidades americanas se revoltaram contra esse tipo de policiamento, que nos EUA chamam de preventivo, que tenta prever quem é a pessoa que vai cometer crime e que acabam fazendo essa filtragem racial. No Brasil é a mesma coisa. É baseado no olhar, na intuição do policial.
Ponte – Quem é racista: o policial ou a Polícia Militar?
Jacqueline – As duas coisas. De um lado essa técnica de trabalho, de policiamento ostensivo, dá muita margem para a subjetividade do policial. É o policial que tem que suspeitar, é muito carregado em cima das concepções dele, do corpo dele, da escuta dele, do olhar dele. A ferramenta do policial é o próprio corpo dele e com isso ele pode carregar as concepções dele. O treinamento policial não dá conta de reverter. Os oficiais que entrevistamos falam isso: ‘o policial é recrutado em uma sociedade que é racista, não tem como a gente assegurar que pessoas racistas não serão recrutadas’.
O processo de formação policial não desconstrói essas ferramentas, essa forma de pensar, ele não oferece um outro modo de pensar. Nesse ponto de vista, as concepções racistas dos policiais são funcionais para o modelo do policiamento e para a produtividade policial.
Nem todo policial é racista, mas não existem mecanismos que possam filtrar essas concepções pessoais dos policiais. Por outro lado, a instituição em si reforça isso através do modelo de policiamento, quando ela não oferece outras ferramentas de trabalho para o policial que não sejam essas concepções. Daí não estamos mais falando de atitudes pessoais, estamos falando de uma organização que trabalha com essa lógica.
Tem policiais que são racistas e a instituição não freia, não filtra, não muda a cabeça deles e por outro lado você tem uma instituição que se vale dessas concepções para realizar o próprio trabalho de policiamento, que reproduz um sistema de segurança pública em que simultaneamente você tem racismo e violência.
Ponte – Com isso, temos uma polícia que mata, mas que não impede os crimes.
Jacqueline – Os delitos mais violentos não são freados com esse modelo de policiamento. Quando vemos os motivos das prisões em flagrante é de crimes patrimoniais, dentro estão crimes violentos como roubo, mas também estão crimes não violentos como furto e receptação. E tráfico de drogas, que, em si, não é uma atividade violenta, é uma atividade de comprar e vender drogas. Esses são os tipos de delitos que o modelo de policiamento visa.
O maior número de prisões, disparado, está por esses dois tipos de delitos. Enquanto crimes contra a mulher e contra a pessoa em geral, onde estão incluídos as agressões e os estupros, por exemplo, produzem um número de prisões em flagrante muito baixo, muito menor. Esse policiamento não é sensível para captar esse tipo de delito que é mais violento. Nesses delitos, como a Lei Maria da Penha e crimes contra a pessoa, você tem uma maioria de presos que é branca e não negra.
Ponte – E ainda temos também toda a fragilidade da própria lei, como é o caso do tráfico de drogas que não se sabe qual é a quantidade de drogas que define quem é usuário ou não, e nosso sistema de justiça em que a palavra do policial muitas vezes é a única prova para se condenar alguém.
Jacqueline – Exato.
Ponte – Qual o papel da tecnologia nisso?
Jacqueline – O uso das tecnologias reforça a filtragem racial em vez de modula-la. O olhar do policial é enviesado então dá para usar as tecnologias para ajudar a reverter essa visão estereotipada que o indivíduo poderia ter, mas no caso não é isso que acontece. Sejam essas tecnologias informais, como fotos no WhatsApp, sejam as tecnologias formais, que são os mapas criminológicos e os vídeos de vigilância, também são orientadas pela filtragem racial, porque as filmagens vão mostrar a própria atividade da polícia.
Se mais pessoas negras são presas, a tecnologia vai mostrar que mais pessoas negras são mais frequentes. No mapa a mesma coisa, vai mostrar que os delitos estão sendo cometidos por pessoas negras porque a polícia prende mais pessoas negras, mas não dá para saber o total de delitos cometidos. Como a polícia vigia muito mais pessoas negras, registra muito mais pessoas negras. Lei Maria da Penha e estupros são de maioria de pessoas brancas, mas não são os delitos mais visados pelo policiamento.
Ponte – Qual o papel dos policiais influenciadores nesse sentido?
Jacqueline – É muito interessante porque eles quebram a hierarquia da Polícia Militar, que fala bem forte de disciplina e hierarquia, a ideia que a Polícia Militar seria superior a outras formas de policiamento porque eles são muito organizados, militarizados e hierarquizados. Os influencers acabam produzindo um efeito perverso porque eles influenciam a ação policial, educam os policiais, de uma maneira informal, fora da estrutura. Você tem um comandante de área que prega algo para sua tropa que tem uma concorrência com aquilo que tá chegando por WhatsApp para os policiais.
Os policiais têm uma opinião muito formada pelas redes sociais e isso tá rivalizando a ideia de hierarquia, de que o comando da PM forma a cabeça dos policiais. O que temos visto ocorrer hoje é essa ruptura cultural dentro da própria PM. Não é verdade hoje que o processo de formação nas escolas da PM que forma a cultura policial, a cultura policial, hoje, está sendo muito influenciada pelas redes sociais e esses influenciadores, que normalmente são ex-policiais, deputados que foram ex-policiais, e que têm um poder muito grande de influência na cultura policial.
Ponte – Qual seria uma alternativa para a Polícia Militar?
Jacqueline – A mudança no modelo de policiamento é fundamental. Aí pouco importa se a estrutura da polícia é desmilitarizada ou militarizada. Eu sou favor que desmilitarize por outros motivos, porque você pode ter uma Polícia Civil, como acontece no Rio de Janeiro, que produz letalidade e tem uma estrutura civil.
A questão do modelo de organização se torna secundária porque interessa muito mais saber qual é o modelo de policiamento que está sendo implementado e como se controla a atividade do policial. Eu fui para o Canadá estudar modelos de implementação de programas anti filtragem racial, dizer explicitamente para os policiais o que eles não devem fazer e desenvolver ferramentas que os próprios policiais tomem consciência de que eles discriminam.
Esses programas, na minha opinião, são muito mais importantes do que a forma de organização em si da polícia, porque podemos ter uma Polícia Civil que seja tão discriminatória quanto. Para mim está muito mais baseado no modelo de policiamento e a diversificação dos diferentes modelos de policiamento.
O delito e a violência não são um só, você tem condições sociais muito diferentes para se produzir um delito. Violência doméstica não é a mesma coisa do crime patrimonial, então deveríamos ter diferentes modelos de policiamento para atuar de formas diferentes e é isso que falta no Brasil.
Temos um grande investimento em policiamento ostensivo, mas esse policiamento tem limites muito claros e está muito baseado em filtragens raciais. Você vai investir só nesse modelo de policiamento e esse modelo produz esse tipo de distorção. Onde você tem policiamento ostensivo ele produz impacto negativos de tratamento discriminatório.
—
Ilustração: Antonio Junião / Ponte