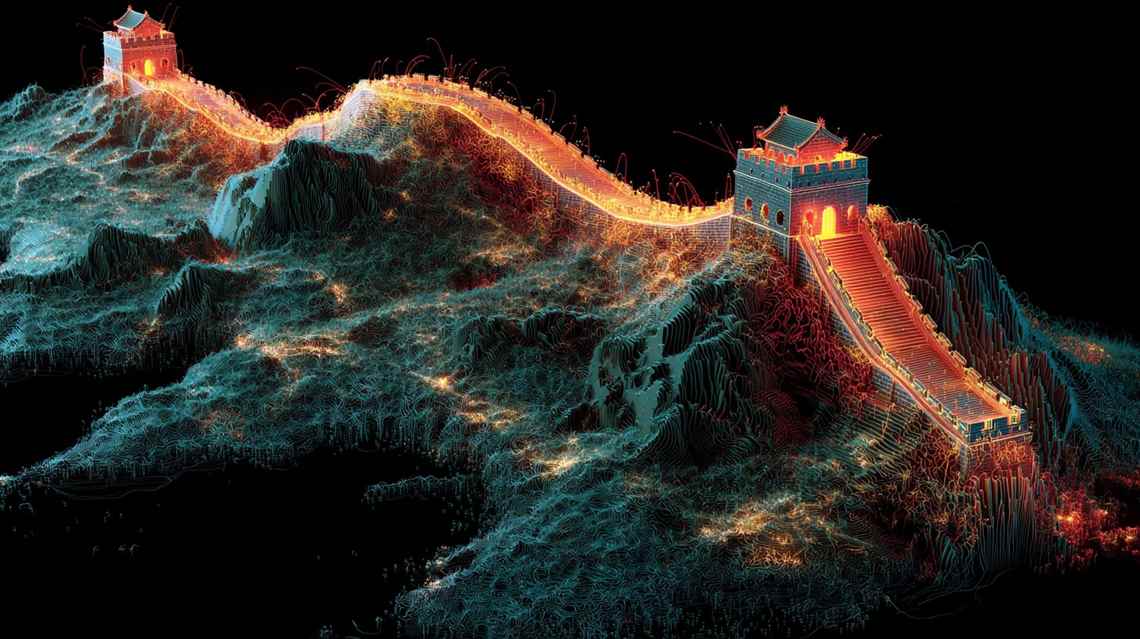Não digas que é impossível, se ainda não tentaste.
Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde ir.
Não há mão que agarre o tempo (Provérbios populares portugueses)
Quando, em 2008, o sistema financeiro nos EUA e nos países centrais esteve ameaçado de falência, seriamente, pela primeira vez desde 1929, ficaram expostos os limites do capitalismo. Mas nunca existiram crises econômicas sem saída para o capitalismo. Quinze anos depois, sabemos mais. A superação de crises econômicas nunca foi, evidentemente, indolor. Exigiu destruição massiva de capitais, um aumento do patamar de exploração da força de trabalho, uma intensificação da concorrência entre monopólios e da rivalidade entre Estados.
Enquanto o capitalismo vivia sua época histórica de gênese e desenvolvimento, as crises destrutivas eram, relativamente, mais rápidas e suaves. Mas essa época ficou para trás. Agora são mais destrutivas e catastróficas. O argumento deste texto é que estamos diante de um período histórico de aceleração da decadência do sistema. Este é o fundamento da crescente influência da extrema direita: uma estratégia contrarrevolucionária para salvar o capitalismo, e preservar a liderança dos EUA.
Mas não há na escala internacional uma articulação das esquerdas, moderadas ou radicais, que possa oferecer a resistência necessária ao que está por vir. O internacionalismo está “em coma”, ou morreu? O que é certo é que a luta isolada em cada país, diante de um inimigo que se unifica no mundo, estará condenada a derrotas. Agora foi a vitória de Milei na Argentina. Há cinco anos, foi no Brasil, com Bolsonaro. Ano que vem pode ser nos EUA, com Trump.
Depois da rápida recuperação dos dois anos da pandemia (2020/21), o perigo de crescimento nanico, ou estagnação de longa duração, é iminente, contrastando com o dinamismo da China. A necessidade de controlar as pressões inflacionárias tem obrigado a manutenção das taxas básicas de juros nos patamares reais mais elevados, desde o início dos anos oitenta. Aumenta a pobreza e a desigualdade social nos EUA e na Europa.
A burguesia norte-americana procura preservar sua supremacia política-militar estreitando o bloco histórico com o Reino Unido dentro da OTAN, arrastando a França e a Alemanha para o apoio incondicional ao governo Zelensky na Ucrânia contra a Rússia, consolidando tratados com Japão, Austrália e Coreia do Sul contra a China no Pacífico e reafirmando a aliança com Israel na invasão da Faixa de Gaza.
Não fosse o bastante, o crescente aquecimento global, que precipita desastres ambientais extremos, coloca a urgência de uma transição energética que permanece à deriva. Mas o mais emergencial e pior de tudo é que surgiu um movimento de extrema direita internacional de supremacia branca, dentro do qual lideranças neofascistas são muito influentes e desafiam os regimes democrático-liberais em que florescem, e defendem como projeto impor uma derrota histórica aos trabalhadores e aos oprimidos.
As últimas crises confirmam que os limites históricos do capitalismo estão mais estreitos. Estes limites não foram, não são, não poderiam ser fixos. Eles resultam de uma luta política e social, ou seja, evoluem em função da correlação social e política de forças. Em alguns períodos, se contraíram: depois da vitória da revolução russa de 1917; da revolução chinesa; da revolução cubana. Em outros, se expandiram: depois do New Deal de Roosevelt; depois dos acordos de Ialta e Potsdam, ao final da Segunda Guerra Mundial; depois de Reagan/Thatcher nos anos 80. O capitalismo não terá “morte natural”, o que não é o mesmo que dizer que não tenha se manifestado na história uma tendência à crise “final”, isto é, uma tendência a crises cada vez mais sérias e destrutivas, que ficou conhecida na tradição marxista como a teoria do colapso (1). Mas a história confirmou que não bastam as crises do capitalismo. Os excessos “objetivistas” em análises que diminuem a necessidade da disposição de luta e consciência de classe são deseducativos.
Apesar do impacto destrutivo da última grande crise mundial de 2008, o capitalismo se recuperou. Todos os Estados, mesmo aqueles que têm uma posição dominante no mercado mundial, estão condicionados pela pressão do capital financeiro. A influência de “mágicos” neokeynesianos cresceu, depois de 2008 com Obama e uma década de relaxamento monetário (Quantitative Easing), substituindo, em parte, os “artistas” neoliberais à frente de vários governos, mas enfrentaram muitas dificuldades para “salvar” o capitalismo dos capitalistas.
Os impostos a serem arrecadados nas décadas futuras foram antecipados como âncora na forma de emissão de dívida pública, mas não se recuperaram taxas de crescimento satisfatórias. Evitou-se uma “grande depressão”, como aquela que se precipitou nos anos trinta do século XX, e abriu o caminho para Hitler, mas foi uma “fuga em frente”. Ganharam tempo, mas nada mais. E não evitaram a eleição de Trump em 2016.
Ficou dificultada a possibilidade de emissão de novos títulos depois da pandemia, sob pena de uma onda inflacionária mundial e desvalorização das moedas de entesouramento (dólar norte-americano, libra inglesa, franco suíço, euro, iene). Mas a crise que se desenha a partir de 2024, com desaceleração e pouso suave, ou contração mais forte da economia mundial, não deve ser considerada somente mais uma crise cíclica como as anteriores de 2000/2001, 1991/92, ou 1981/82 (2). Será, provavelmente, mais parecida com 2008. E ninguém pode saber, por antecipação, se a mesma estratégia de QE ou relaxamento monetário será possível.
Em perspectiva, a questão histórica determinante para a compreensão das três últimas décadas foi o significado terrível da derrota político-social que assumiu a restauração capitalista na URSS, a partir de Gorbatchev. A economia capitalista conheceu, ao longo dos últimos trinta anos, três ciclos de ampliação econômica que dependeram muito da financeirização – um salto qualitativo de importância da aposta em capitais fictícios, em consequência da recessão dos anos setenta. Foi a financeirização que facilitou a expansão do crédito que impulsionou os mini booms dos anos oitenta com Reagan, dos anos noventa com Clinton, e dos anos 2001/2008 com Bush.
Operaram, com força de influência variada, os outros quatro fatores identificados por Marx como contra-tendências de freio à queda da taxa média de lucro, o metabolismo do capital: o barateamento das matérias primas, a renovação de tecnologias, a internacionalização até à última fronteira e – o mais importante – o aumento da exploração do trabalho.
Nos dois primeiros mini booms, entre 1982/87 e 1993/98, aconteceram quedas importantes nos preços do petróleo e dos grãos, embora não no último, de 2002/08; o desenvolvimento da microeletrônica e da telemática foi significativo para o impulso da restruturação produtiva, sobretudo nas duas últimas décadas do século XX; o crescimento chinês e, em menor medida, da Índia, foi um fator de impulso nos últimos trinta anos; a estagnação do salário médio nos EUA e a restauração capitalista, incorporando centenas de milhões ao mercado mundial, pressionaram para baixo o salário médio na Europa e Japão.
Há quem seja, mesmo na esquerda, leviano ou irritantemente otimista nas previsões para os próximos anos como Fernando Haddad. Esta posição prevalece no governo Lula, apesar de uma crescente discórdia dentro do PT. A aposta de que o capitalismo mundial poderá superar a pressão inflacionária sem crise “explosiva”; de que os investimentos em inovações tecnológicas da nanotecnologia, na transição energética, na indústria militar e outros serão suficientes para uma passagem “virtuosa” para mais um período de crescimento é um cálculo de imenso risco, e parece irrealista.
Desconsideram que foi o barateamento do crédito o fator decisivo da rápida recuperação das últimas três crises mundiais, e que o remédio já não deve funcionar mais na mesma escala. O FED não parece disposto a arriscar, voltando a taxas negativas, e não somente em função da inflação. A expectativa dos rentistas condicionou, historicamente, o volume de estoque das dívidas públicas e o custo de rolagem dos empréstimos. A financeirização transformou os títulos públicos de qualquer Estado – inclusive, no limite, os dos EUA – em papéis que podem, também, apodrecer, desde que os investidores percam a confiança de que o Estado poderá honrar seus compromissos. Não há qualquer garantia, a priori, de que os títulos públicos não virem tóxicos.
A montanha de derivativos cresceu em 2008 até atingir o pico de US$ 600 trilhões, ou mais de dez PIBs mundiais, e transformou-se em um obstáculo intransponível, porque o movimento de rotação de capital não é possível nesta escala: deixou de ser possível a valorização de capital, mesmo que muito lenta, quando o volume de capitais fictícios atingiu esta dimensão estratosférica. Metade destes títulos era inegociável e desvalorizaram abruptamente.
Desde que Washington renunciou à convertibilidade fixa do dólar, em 1971, e preferiu que ela flutuasse livremente, em função da oferta e procura, o Estado aumentou as possibilidades de endividamento. Foi uma resposta fiscal de tipo keynesiano à desaceleração do crescimento do pós-guerra nos anos setenta. A moeda norte-americana desvalorizou-se, porém preservou o seu papel de moeda de reserva mundial.
A financeirização está na raiz da crise dos endividamentos públicos acima dos 100% dos PIBs nos países centrais. O endividamento do Estado não é senão a antecipação para o presente de receitas fiscais futuras, os impostos que serão pagos nos anos por vir e, em prazo mais longo, pelas futuras gerações.
Ao contrário de empresas, Estados não podem falir. Mas podem cair em situação de inadimplência por incapacidade de rolagem dos juros, com moratória das dívidas. Os limites desta relação entre dívida pública e PIB e capacidade de rolagem de juros varia muito. É diferente quando se trata de um país central, que possui capacidade de emitir uma moeda que é convertível, ou uma nação periférica que depende de saldos no balanço de pagamentos, portanto, de exportações e investimento direto estrangeiro, para acumular reservas em moedas fortes. Mas, ainda que a escala das ameaças seja diferente, nem mesmo os países imperialistas estão imunes ao perigo da estagnação ou, simetricamente, pela inflação e desvalorização de suas moedas. Os capitalistas têm muito medo de perder dinheiro.
A Argentina perdeu o acesso ao mercado mundial de capitais. Não somente porque sua dívida pública repousa em títulos em dólares, portanto, com juros que devem ser pagos em dólares ao FMI e fundos abutres, mas também porque é um país dependente que já declarou moratória da dívida pública mais de uma vez. Foi o que aconteceu com o Brasil durante o governo Juscelino Kubitschek, nos anos cinquenta, ou José Sarney, nos anos oitenta.
Isso significa que Estados, mesmo os Estados centrais, não conseguem se endividar além de sua capacidade de pagamento, porque os investidores perderão a confiança nos títulos, e exigirão em contrapartida juros mais elevados para renovação dos empréstimos. Um maior endividamento se traduzirá em um comprometimento de despesas que impedirá investimentos futuros e provocará recessão crônica, ou desestabilização política pelos cortes nas despesas dos serviços públicos com sequelas sociais imprevisíveis. Nessa dinâmica, a extrema direita acumula forças.
A parasitagem das dívidas públicas foi um dos negócios mais rentáveis da expansão mundial da liquidez das últimas três décadas. Os credores dos títulos públicos se entesouram nestes papéis, buscando a máxima rentabilidade e a máxima segurança. O aumento da dívida do Estado em relação ao PIB eleva, contudo, o custo da rolagem da dívida, o que se revelou, no passado, incompatível com a preservação dos gastos públicos e traz como ameaça um agravamento da recessão. Este é o terreno que abre influência em frações burguesas, e audiência nas camadas médias acomodadas, para os discursos apocalípticos dos neofascistas que denunciam os “gradualismos” e exigem soluções “cirúrgicas”: o “salve-se que puder”, ou redução do papel dos Estados na contenção da crise social com transferências de renda.
Por isso é que os marxistas afirmam que o limite do capital é o próprio capital. Em outras palavras, a superação das crises capitalistas, como aquela que se desenha a partir de 2024, não é impossível. Mas terá o custo de uma regressão econômica social imensa, a começar pelos países mais frágeis da periferia, que dependem de exportações de matérias primas.
O Brasil não está blindado diante deste perigo. Uma queda na demanda mundial, ainda que seja compensada pela manutenção dos níveis de transações com a China, se associada a uma redução no nível dos investimentos, quase incontornável com o arcabouço fiscal e austeridade nos gastos públicos, pode interromper o crescimento pós-pandemia dos últimos três anos.
O desfecho do que virá não parece animador. Sem um choque que altere, de forma qualitativa, a correlação de forças entre capital e trabalho, no Brasil e em escala internacional, há que esperar uma situação pior. O desenlace da guerra na faixa de Gaza, no curto prazo, será muito ruim, por exemplo. O que está em disputa é uma reconfiguração econômica, social e política do mundo tal como o conhecemos.
Mas a história não deu a palavra final. Só que a história não é sujeito, é processo. O seu conteúdo é uma luta. Essa luta assume variadas intensidades. Então, felizes festas. Que venha 2024 e nos surpreenda com boas notícias. (Publicado no Esquerda Online, 13/12/2023)
Notas:
- Há um debate interessante sobre o tema. Uma referência útil pode ser encontrada no livro organizado por Lucio Colletti: El marxismo y el “derrumbe” del capitalismo.
- O livro de Robert Brenner O boom e a bolha é uma apresentação do tema da crise que explodiu no final dos anos noventa.
—
Ilustração: Mihai Cauli e Revisão: Celia Bartone