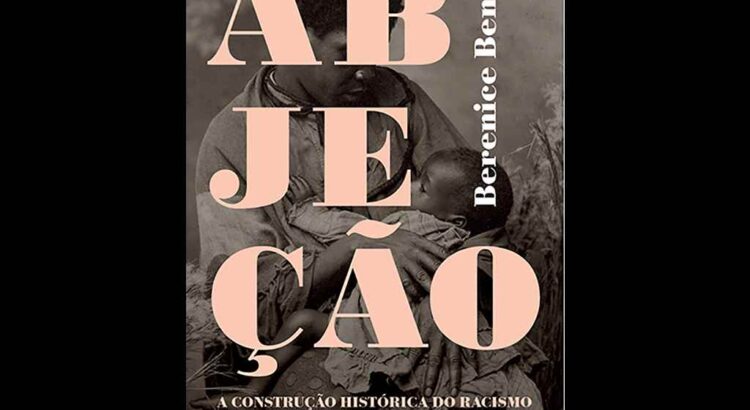Para a pesquisadora, “a questão racial e negra é estrutural e estruturante do Brasil. O que somos passa por aí e não poderia ser diferente, pois não estamos falando de uma experiência histórica que durou 40 anos, mas de uma experiência que durou quase 400 anos”
Por: Patricia Fachin, em IHU
Entre os séculos XVI e XIX chegaram cerca de sete milhões de africanos escravizados traficados pelos portugueses. Essa matriz africana está no cerne da construção da sociedade brasileira, mas também no racismo estrutural que se forjou o país. Esta pauta foi muitas vezes apagada e esquecida pela ciência, que “não está acima das classes, das raças e dos gêneros”, coloca Berenice Bento. E foi a partir da “demanda pela presença e pela visibilidade do pensamento negro” nas universidades que a professora se debruçou nos últimos seis anos a uma vasta pesquisa histórica que culminou no livro Abjeção: a construção histórica do racismo (Cult Editora: 2024).
A publicação lança luz sobre os debates parlamentares que antecederam a promulgação da Lei do Ventre Livre, de 1871, que culminaria na “primeira geração de brasileiros negros que iria compor a população brasileira”, conta a pesquisadora na entrevista concedida por WhatsApp ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Entre os meses maio e setembro de 1871, parlamentares se revezaram na tribuna para defender ou atacar o projeto de lei encaminhado pelo imperador Dom Pedro II que visava principalmente determinar que os filhos de mulheres escravizadas, nascidos após a promulgação da lei, nasceriam de condição livre.
Ao recorrer à historiografia, Berenice avaliou a herança colonial escravocrata e observou seus efeitos na contemporaneidade tendo o conceito de abjeção com fio condutor. A autora procurou apontar as linhas de continuidade entre passado e presente. A professora também propõe o conceito de necrobiopoder em articulação com o de genocidade para analisar os anais parlamentares de 1871. Segundo coloca, “o conceito de necrobiopoder passa a ser um tipo de instrumental analítico que ajudou a interpretar as políticas do Estado que não se move, exclusivamente, por políticas de promoção da vida e do cuidado, consideradas no âmbito da biopolítica, tampouco se move exclusivamente por políticas de promoção da morte, que é o necropoder”, exemplifica.
Berenice Bento é professora associada do Departamento de Sociologia/UnB e pesquisadora 1C do CNPq. Graduada em Ciências Sociais pela UFG (1994), é mestre em Sociologia pela UnB (1998), doutora em Sociologia pela UnB /Universitat de Barcelona (2003) e pós-doutora pela City University of New York (2014). Foi pesquisadora visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (2022-2023), editora da Revista Cronos/PPGCS (2010/2013), colunista da Revista Cult (2015/2016), coordenou o Núcleo Interdisciplinar Tirésias (UFRN), secretária geral da ABEH (2008/2010) e coordenadora geral do I Seminário Internacional Desfazendo Gênero (2013/UFRN).
Participa dos grupos de trabalho Palestina e América Latina (CLACSO) e Filosofia e Feminismo (CLACSO). Além de publicar em periódicos nacionais e internacionais, é autora, entre outros, de A reinvenção do corpo: gênero e sexualidade na experiência transexual (Garamond, 2006; EDUFRN, 2014, 2. Ed.; Devires, 2017, 3. ed.); O que é transexualidade (Coleção Primeiros Passos/Brasiliense, 2012, 2. ed.); Transviad@s: gênero, sexualidade e direitos humanos (EDUFBA, 2017); Brasil, ano zero: gênero, violência, Estado (EDUFBA, 2021). Em 2011, foi agraciada com o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos.
Confira a entrevista.
IHU – O título do seu novo livro é “Abjeção: a construção histórica do racismo”. Por que abjeção é o termo que sintetiza e explica a construção do racismo no Brasil?
Berenice Bento – O que define o abjeto é aquilo com o qual não construo relação. Porque dentro do campo de inteligibilidade, definido para o que é um humano, aquele corpo está fora e não tem inteligibilidade humana. Então, é abjetado, excluído, expulso da possibilidade de oferecimento de humanidade. Isto é oposto da relação objetal, tal é conhecido na psicanálise como “objeto do desejo”. Quando digo “objeto do desejo”, digo que é algo exterior a mim, mas que me constituiu; se eu o tiro da minha vida, ela precisa ser ressignificada. Na relação objetal, acontece de fato uma relação, há uma linguagem comum entre o exterior e o interior. No abjetal acontece o oposto: é a ausência de gramática, a ausência de inteligibilidade para conferir reconhecimento.
Este conceito é fundamental para eu entender que os corpos negros vêm ao mundo sob o signo da abjeção, aquilo que, portanto, está fora da ontologia.
Tem um capítulo no livro em que discuto a teoria da mudança social e converso com teóricos da esquerda brasileira. Ao contrário dos trabalhadores na Europa, que não precisaram enfrentar a questão de raça, aqui a constituição da classe social foi atravessada pelas questões raciais. Basta lembrarmos que a política de importação de mão de obra europeia, para substituir a mão de obra escravizada, para além das questões do mercado, obedeciam ao imperativo de um projeto de nação que tinha como meta a limpeza do sangue, ou seja, fazer desaparecer todo vestígio fenótipo africano. Nos países colonizados com herança escravocrata, a questão do corpo, da politização desse corpo que foi construído sobre o signo da abjeção, coloca outras tarefas.
Quando se fala “o negro é bonito”, “black is beautiful”, a politização da estética, é importante porque esse corpo foi assignado, construído sobre a impossibilidade de conferir reconhecimento humano. Outro debate que enfrento no livro é com o movimento feminista. As mulheres brancas livres já nasciam com gênero – eram mulheres –, as mulheres negras escravizadas estavam fora da categoria de gênero. As mulheres livres brancas eram mulheres que tinham famílias, eram a encarnação da ideia da pátria e da maternidade. O gênero para as mulheres escravizadas, ao contrário, tornou-se uma agenda de luta. É um pouco esse movimento que faço no livro: vou lendo a herança colonial escravocrata e pensando os seus efeitos na contemporaneidade.
IHU – Que novidades históricas e reflexivas sua pesquisa sobre os debates que aconteceram no Parlamento brasileiro entre maio e setembro de 1871, quando se discutiu o futuro da primeira geração de pessoas negras livres no país, trazem para a melhor compreensão do que se sucedeu à época?
Berenice Bento – Há uma considerável historiografia que analisa os anais de 1871. Isso existe e não é nenhuma novidade ler os anais e ver como os deputados e senadores se posicionaram diante do projeto encaminhado pelo imperador que definia que, a partir da aprovação, não nasceria mais nenhuma criança escravizada no Brasil. É a chamada Lei do Ventre Livre.
Eu comecei a ler os anais me perguntando inicialmente qual era concepção de gênero que orientava aqueles parlamentares quando defendiam, por exemplo, que a mulher continuaria escravizada, ou seja, seguiriam habitando o mundo da necropolítica, enquanto seus filhos nasceriam e comporiam o Estado-nação brasileiro porque nasceriam livres. É bastante diferente nascer livre e ser liberto: o liberto nascia de condição escravizada, mas, em determinado momento, por múltiplos caminhos, conseguia a carta de alforria. Os libertos e as libertas tinham uma legislação específica e não compunham, de fato, a população brasileira.
Primeira geração de brasileiros negros
Nós estávamos diante do que seria a primeira geração de brasileiros negros que iriam compor a população brasileira. Eu quis entender inicialmente quais eram os argumentos. São muitos argumentos e eu vou discutindo ao longo da primeira parte do livro por blocos de argumentos favoráveis e contrários. O que percebi, em certo momento da minha pesquisa, foi que eu não poderia ficar somente na análise do ponto de pauta referente ao chamado “elemento servil”. Dei um giro e passei a ler todos os debates, sobre todos os temas que aconteceram na legislatura de 1871, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Foi quando percebi que quando eles discutiam a abolição indireta (não é imediata como foi a Lei Áurea de 1888, mas uma abolição para o futuro, para a geração que nasceria), eu me movia explicitamente no campo da necropolítica: eram deputados e senadores discutindo como acabar com a escravidão, a questão das torturas, que os filhos não podiam ser livres se a mulher era escravizada, que a propriedade é um direito constitucional. Os corpos escravizados são como fantasmas, não têm nomes, sobrenomes, profissões. Não citam um único nome de uma escravizada ao longo dos cinco meses de debates. Eram mercadorias que estavam sendo discutidas ali.
Necrobiopoder
Quando eu me movi para outro campo dos anais, que não é mais o elemento servil, aí eu não vejo o necropoder, mas o biopoder. Por exemplo, era muito comum viúvas [mulheres livres] pedirem pensões porque os maridos haviam sido coronéis ou militares que foram mortos no campo de batalha da Guerra do Paraguai. Nesses casos, há nome, sobrenome, idade, um corpo humanizado. Assim, observei. que há dois poderes atuando, duas formas de ler os corpos atuando nos mesmos anais: de um lado, explicitamente o necropoder, do outro, o biopoder. A partir dessa leitura é que eu vou propor outro conceito, que é o de necrobiopoder, para ler esses anais. O que então pude concluir é que a forma de gestão dos corpos pelo Estado obedece a ontologias antagônicas.
Dito isso, eu também concluí que o conceito de gênero circulava na biopolítica. Quando eu me movia para necropolítica, onde estavam sendo discutidos os corpos escravizados, eu me deparava com a necropolítica, mas é a mesma instância do Estado, é o mesmo Estado. O conceito de necrobiopoder que estou propondo – e que me ajudou a ler e interpretar as discussões – passa a ser um tipo de conceito que nos diz o que é o Estado brasileiro. O Estado não se move exclusivamente por políticas de promoção da vida e do cuidado, como é essa parte dos anais, tampouco se move exclusivamente por políticas de promoção da morte, que é o necropoder. O conteúdo mesmo desse conceito é a abjeção. Eu só digo que posso usar esse corpo e extrair dele tudo, esvaziar toda a energia, porque não reconheço a humanidade naquele corpo.
A aparência de atributos compartilhados entre as pessoas livres e escravizadas era apenas a aparência. A mulher escravizada tinha o mesmo atributo biológico que a mulher livre: dar a vida. No entanto, essa aparente diferença sexual compartilhada entre ambas não me autoriza a lê-las como participantes da mesma condição ontológica. Os filhos das mulheres livres iriam compor as famílias e o Estado-nação. Os (não) filhos das mulheres escravizadas habitariam os livros de contabilidade dos senhores e senhoras escravocratas. Desta forma, proponho acrescentar a palavra “commodity” quando me refiro à diferença sexual das mulheres escravizadas.
Relação inter-raciais no Brasil escravocrata
O século XX é reconhecido como o momento em que a ideia da democracia racial no Brasil se apresenta com muita força. O que descobri ao ler os anais é que essa ideia já se apresenta com muita força no século XIX. Aqueles senhores escravocratas, senadores e parlamentares, afirmavam que no Brasil, ao contrário de outros países escravocratas, existia uma “boa relação entre nós e nossos plantéis, porque somos humanos, damos boa alimentação e temos uma relação quase que paternal com os nossos escravos” – assim eles diziam. Afirmavam que era preferível a situação escrava, que encontrava na proteção dos senhores a segurança de um lugar para viver, à situação dos operários europeus que chegavam a morrer de fome.
Ao mesmo tempo que falavam dessa relação marcada pelo não conflito entre pessoas escravizadas e senhoras e senhores escravocratas, ficava evidenciado também o medo da revolta negra, da revolta escravizada, o que era uma contradição. Por que esse medo se a relação era muito boa?
Eles tinham um verdadeiro pânico quando se falava na aprovação da Lei do Ventre Livre. Um dos argumentos é que se fosse aprovada, a lei poderia gerar uma instabilidade muito grande no mundo das lavouras, porque nas mesmas senzalas haveria crianças livres e crianças escravizadas, o que poderia gerar instabilidade e revolta. Quando os parlamentares falavam isso, começavam a esboçar a profunda insegurança que eram os ambientes das fazendas. Quando analisamos os discursos, precisamos prestar atenção a esses deslizes e a essas contradições.
Resistência e revolta escrava
Motivada pelo medo que aparece nos anais, comecei a estudar as revoltas das pessoas escravizadas. Esse é um longo capítulo do livro, onde discuto como as pessoas escravizadas se constituem como sujeito histórico em vários níveis.
Temos os quilombos, que são os mais reconhecidos e que são estruturas de poder próprias, paralelas ao Estado. Os quilombos chegam à contemporaneidade como provas vivas da resistência negra. Atualmente, a população quilombola no Brasil é de cerca de dois milhões. Além disso, há as revoltas urbanas e rurais e o conflito no nível mais micro, que acontecia dentro de casa. Falo dos assassinatos sistemáticos de senhoras e senhores escravocratas realizados por pessoas escravizadas, assim como o suicídio de pessoas escravizadas, para o desespero da senhora e do senhor escravocrata. O suicídio pode ser lido pela chave da resistência, assim como o infanticídio, que tem toda uma carga moral, e as pessoas decidiam: “meu filho não vai seguir esse destino”.
Fantasma comunista: herança colonial
O fantasma do comunismo, que para algumas pessoas nasce durante a ditadura militar no Brasil, que levou ao golpe militar de 1964, e para outros emerge durante os governos de Getúlio Vargas, começa, de fato, a aparecer já em 1871. Pasmem: em março de 1871 aconteceu a Comuna de Paris. Dois meses depois começam os debates aqui no Brasil sobre a Lei do Ventre Livre. Um dos argumentos contrários ao projeto era que se tratava de uma proposição comunista porque atacava o direito constitucional da propriedade privada. A Comuna de Paris, na Europa, estava discutindo a expropriação das fábricas e a coletivização. No Brasil, isso é ressignificado porque a propriedade principal que tínhamos naquele momento era a terra e as pessoas escravizadas. Esses são alguns achados que discuto no livro.
IHU – Em que consistiu a “encruzilhada legal” decorrente da assinatura da Lei do Ventre Livre em 1871?
Berenice Bento – O que a lei determinou? Um único corpo, o corpo da mulher escravizada, carregava em si dois tipos de poder que são antagônicos. Por um lado, esse filho que viria ao mundo iria compor o Estado-nação, seria livre (em termos legais), mas de fato não aconteceu, porque uma criança se define pela sua completa vulnerabilidade – da alimentação, da linguagem e dos cuidados de higiene. Que liberdade é essa se tudo o que ele precisa para se tornar um ser viável passa pelo cuidado de outro ser, da mãe ou de outro cuidador? A lei definiu nestes termos: os filhos nasceriam livres, mas tinha toda uma regulamentação de que ficaria sob os cuidados do senhor até os 8 anos e depois o senhor decidiria o que faria – se ficaria com ele ou se entregaria a uma instituição do Estado.
Essa é a “encruzilhada legal”, que chamo de encruzilhada porque só acontece no mundo da lei. Na prática, justamente pelo caráter de vulnerabilidade absoluta que caracteriza essa criança, o que aconteceu foi a continuidade da situação de escravidão. O corpo da mulher escravizada torna-se a síntese dessa encruzilhada legal: ela seguiria escravizada. O filho livre.
IHU – Quais as consequências dessa encruzilhada legal ainda hoje no país?
Berenice Bento – Essa encruzilhada anuncia muitas coisas. Vou citar uma delas: a impossibilidade da mulher negra escravizada ser mãe. Porque o que define a maternidade é justamente essa memória compartilhada, essa autoridade que a mãe tem. Isso não existia, porque a mulher escravizada não definia o que ela faria do seu dia. As crianças ficavam jogadas na senzala, haja visto que a taxa de mortalidade delas, até 2 anos de idade, ultrapassava os 50%.
Maternidade negada na escravidão
A condição da maternidade é um atributo feminino. Os corpos das mulheres negras escravizadas e das mulheres brancas livres têm essa potência, a capacidade de procriar, mas é completamente diferente uma mulher que tem um filho dentro de um casamento que tem “honra” e que vai gerar um filho que vai compor um Estado-nação, com determinadas expectativas sociais para aquele corpo. Essas expectativas são completamente estranhas ao corpo da mulher negra escravizada e ao homem negro escravizado. Os filhos que ela iria gerar não eram dela, portanto a autoridade materna está para sempre perdida.
Por isso falei anteriormente que o conceito de gênero não alcança esses dois corpos, que embora tenham a mesma potência – dar leite, procriar etc. – um corpo iria compor o Estado-nação da família e o outro, essa diferença sexual, esses atributos biológicos “naturais”, seriam insumos, commodities. No livro, quando me refiro a essa diferença sexual, que para algumas pessoas é universal – o que é errado –, falo em termos de commodities. O leite das mulheres negras podia alimentar os filhos da casa grande ou ela ser alugada para conseguir ampliar o orçamento doméstico da família escravocrata.
IHU – Quais são as linhas de continuidade e descontinuidade entre o passado colonial escravocrata brasileiro e a realidade contemporânea?
Berenice Bento – O livro tenta estabelecer linhas de continuidade. Como que o racismo opera na psicanálise – é outro capítulo –, onde digo que a raça é uma linguagem estruturante do inconsciente, o racismo organiza concepções de corpo dentro do movimento feminista – tem outro capítulo chamado “Guerra feminista”.
Tem a continuidade dentro da esquerda, que segue pensando que a raça não é um elemento fundamental para entendermos quem somos nós. Esta é minha aposta: não é possível utilizar uma análise teórica acionada para pensar a Europa e as contradições de classe da Europa em um contexto que tem quase 400 anos de abjeção de determinados corpos. Nós precisamos de outras teorias que nos ajudem a entender por que motivo temos essa reprodução histórica, com pouca interrupção.
Quando discuto o “sujeito da história”, digo que precisamos pensar que a abjeção é algo que não está na dialética. O que é a dialética? O movimento da histórica pensado a partir das contradições fundamentais expressas na díade senhor/escravo. Essa explicação da dialética marxista é muito interessante e nos ajuda a compreender as disputas de classe que acontecem na Europa e nós podemos, sem dúvida, usar parte dessa teoria em determinados contextos.
A questão racial e negra no Brasil é estruturante, tudo que se fala passa por aí e não poderia ser diferente, pois não estamos falando de uma experiência histórica que durou 40 anos, mas de uma experiência que durou quase 400 anos.
O livro se localiza em um campo de disputa da memória: disputar o passado, talvez seja essa a contribuição do livro. Porque nós podemos disputar o futuro através das eleições. Mas o que o livro aponta é que nós temos a disputa do passado para ser feita. Precisamos recontar a história do Brasil.
Lei de Cotas lança luz sobre a ciência negra
Quero chamar a atenção para uma descontinuidade que é visível: a questão das cotas. Hoje temos a situação da presença de pessoas negras nas universidades – isso é visível na minha sala de aula. Sou professora há quase trinta anos. Essas pessoas trazem para a sala de aula seus anseios: “queremos que a nossa história e nossos pensadores estejam nas universidades”. É estranho falar “nosso” porque, de fato, foram vozes que nunca foram visibilizadas no mundo da academia. Essas vozes estão fazendo um trabalho impressionante de colocar nos programas dos cursos teóricos/as pensadores/as negros/as.
A partir disso, mais uma vez, fica explicitado como a ciência não está acima das classes, das raças e dos gêneros. A demanda pela presença e pela visibilidade do pensamento negro chega com a presença negra. Eu sou um efeito dessa transformação. Eu não teria feito essa pesquisa ou esse letramento racial com um processo de desconstrução subjetiva tremenda se o contexto na universidade fosse o mesmo que há trinta anos. Inclusive eu começo o livro dizendo que a única coisa que tenho a oferecer no livro são as minhas ruínas, são as minhas cinzas, porque fui revisitar esse passado. E passei a entender o Bolsonaro não como um herdeiro da caserna, uma sobrevivência da Ditadura Militar, mas ele estava presente em 1871 naqueles parlamentares.
O que me jogou nesse projeto de desconstrução foi a presença de estudantes que pediam para estudar Lélia [Gonzalez], ler [Frantz] Fanon, isto é, existe um pensamento potente que, se não houvesse as cotas, certamente eu não teria feito esse enfrentamento. Talvez essa seja uma descontinuidade e o próprio livro esteja inserido nessa descontinuidade.
–
Reprodução da capa do novo livro de Berenice Bento (Foto: Cult Editora)