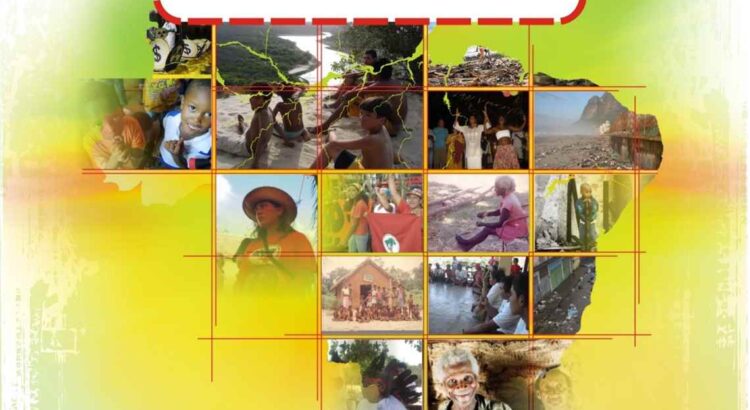Por Tania Pacheco
O tema desta aula(1) não poderia ser mais instigante e importante: Racismo Ambiental, o que eu tenho a ver com isso? Não pretendo absolutamente responder a essa pergunta. Não é minha tarefa aqui. O que proponho é apenas socializar com vocês algumas informações e inquietações, dúvidas e indignações, além de outras perguntas que me incomodam. A resposta – as respostas – espero que sejam construídas durante e a partir do final deste encontro. Será o nosso dever de casa, individual e – espero – também coletivo.
Mas afinal e antes de mais nada, por que “racismo ambiental”? Já não chega racismo estrutural, racismo institucional, racismo? Infelizmente, acho que não. Lamentavelmente. E acho que vale começarmos conversando sobre como essa expressão apareceu. Um pouco de História é sempre essencial para entendermos o presente e construirmos o futuro.
A expressão Racismo Ambiental é atribuída a um reverendo negro, Benjamin Chavis. Ainda adolescente, Chavis havia participado das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Havia sido preso sob falsas acusações e, liberado, havia lutado ao lado de Martin Luther King. No final da década de 1970, já ordenado pastor, dirigia a Comissão pela Justiça Racial da Igreja Unida de Cristo em Warren County, Carolina do Norte, Estados Unidos.
Por volta de 1978, rejeitos tóxicos em quantidades crescentes começaram a ser depositados em um bairro de Warren. E esse bairro tinha uma especificidade: era habitado por negros.
Durante cerca de quatro anos, seus moradores protestaram inutilmente, enquanto o lixão de rejeitos aumentava. Em 1982, informados de que um carregamento ainda maior de resíduos estava a caminho, eles se deitaram na rota dos caminhões, pretendendo impedir a passagem com seus corpos. Foi em vão: cerca de 500 pessoas foram presas, e os caminhões passaram. Mas eles não foram totalmente derrotados: pela primeira vez, o protesto dos moradores rompeu barreiras e chegou aos meios de comunicação nacionais. A expressão “racismo ambiental” se irradiaria com uma das principais bandeiras de suas lutas, e um novo momento para a luta pelos direitos civis estava começando.
Para a população atingida, o resultado direto da mobilização foi uma promessa do governador da Carolina do Norte de que fecharia de imediato o depósito e determinaria a sua limpeza, o que de fato só terminaria de ser feito no início do século XXI. Mas as notícias sobre o protesto em Warren fizeram com que surgissem outras denúncias de diferentes estados, nas quais uma constatação se repetia: o ônus de receber rejeitos contaminados e indústrias agressivamente poluentes cabia invariavelmente a bairros habitados pela população negra.
A divulgação das novas denúncias levou à ação da EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e já no ano seguinte, 1983, ela divulgaria dados revoltantes: nos oito estados do sul do país, ¾ dos depósitos de rejeitos estavam concentrados em bairros negros, embora eles correspondessem a apenas 20% dos habitantes da região.
Nos anos subsequentes, a expressão Racismo Ambiental ganhou força entre os movimentos de base negros. Chavis levou adiante pesquisas sobre as denúncias provenientes de outros estados, sempre a partir da Comissão pela Justiça Racial, e em 1987 publicou o livro “Rejeitos tóxicos e raça nos Estados Unidos da América”, no qual evidenciava a amplitude da questão para as comunidades negras de todo o país.
Um novo passo decisivo para a luta contra o Racismo Ambiental aconteceria em outubro de 1991. A Comissão pela Justiça Racial promoveu a primeira Conferência Nacional das Lideranças Ambientalistas de Cor, em Washington, reunindo mais de 650 ativistas de todos os estados do país e, ainda, representantes de Porto Rico, México, Havaí, Chile e das Ilhas Marshall.
Ao longo de três dias, os participantes ampliaram sua visão, e duas importantes assertivas foram estabelecidas: a primeira, que o Racismo Ambiental se apresentava de diversas outras formas para além da contaminação química; a segunda, que seus efeitos ultrapassavam os limites das comunidades negras e atingiam não só povos indígenas, como os nativos do Alasca, mas fazendeiros mexicanos, latinos em geral, asiáticos e outros grupos discriminados, do campo e das cidades.
Ao final da conferência, os delegados firmaram um documento de 17 itens com o título “Princípios da justiça ambiental”. E seria sob essa expressão mais ampla – Justiça Ambiental – que a luta conquistaria a academia e as grandes organizações não-governamentais ambientalistas brancas dos Estados Unidos. Segundo Robert Bullard, um dos participantes da Conferência que se tornaria o grande teórico e divulgador da Justiça Ambiental não só nos Estados Unidos como internacionalmente, as ONGs ambientalistas brancas precisavam ser conquistadas, e elas não eram sensíveis ao debate sobre questões ‘raciais’. Assim, o Racismo Ambiental permaneceria como uma bandeira praticamente restrita aos movimentos sociais e populares, fundamentalmente negros. De certa forma, o próprio conceito já nascia sofrendo os efeitos do racismo.
Ainda sobre esse início, vale citarmos outra história. Em 1993, Bullard organiza um livro – Confrontando o Racismo Ambiental: vozes das bases (2)– cujo prefácio foi escrito por Benjamin Chavis. O texto defende a importância do combate ao racismo e à injustiça ambiental, não só nos Estados Unidos, mas em todo o planeta, e explicita uma justa preocupação com relação ao Terceiro Mundo. Para Chavis, a tendência seria de que, à medida que a luta nos Estados Unidos fosse bem sucedida, os países pobres se tornassem depositários das grandes cargas de rejeitos tóxicos oriundos de indústrias e de outras atividades poluentes provenientes dos países ricos, como consequência da debilidade de suas legislações. Como bem sabemos, ele estava certo. (3)
Entre nós, Justiça e Racismo Ambiental cumpririam percurso inverso. Trazida principalmente por Bullard, a partir da Eco 92, a Justiça Ambiental abriria caminho aos poucos, repetindo o percurso universidades e ONGs, até chegar à criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, em 2001. Já o Racismo Ambiental só começaria a ganhar força de fato a partir de 2005 e, novamente, ligado muito mais às lutas das comunidades e movimentos do que às falas e práticas da academia.
*
Defino o Racismo Ambiental como “as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre grupos étnicos vulnerabilizados e sobre outras comunidades, discriminadas por sua ‘raça’, origem ou cor”.
É bastante comum encontrarmos artigos ou mesmo falas nos quais pesquisadores utilizam como base essa definição, mas ao fazê-lo trocam o termo “vulnerabilizados” por vulneráveis, sem se dar conta do quanto o uso do primeiro é fundamental para a discussão sobre Racismo Ambiental. Afirmar que esses povos e comunidades são “vulneráveis” equivale a ‘naturalizar’ de alguma forma as injustiças que contra eles são praticadas. Os efeitos abjetos das ações que os prejudicam seriam, então, mera consequência das lamentáveis condições de existência do grupo? Das suas ‘fragilidades’- genéticas, biológicas ou o quer que valha?
Ora, sabemos muitíssimo bem que essa pretensa ‘vulnerabilidade’ foi construída ao longo de décadas, de séculos. Sabemos que ela continua a ser forjada e realimentada diariamente, Brasil afora, até mesmo com aspectos que podemos considerar reais tentativas de etnocídio. Classificar essas populações como “vulneráveis” é o equivalente a utilizar o termo “escravos” em lugar de “escravizados”: uma diferença em nada sutil e que não deixa de representar uma quase legitimação para os crimes contra elas perpetrados.
Quando aqui chegaram, os colonizadores queriam os indígenas para trabalhar; as indígenas, para trabalho e sexo. No seu catolicismo de conquistadores, sequer reconheciam neles uma alma; para todos os efeitos, eram animais. O mesmo aconteceria cem anos depois com os escravizados trazidos da África: entre eles e um cavalo, era o equino que merecia melhor tratamento, como narrou o Padre Antonil em 1711:
“No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessárias três letras P a saber, Pau, Pão e Pano. (…) Alguns senhores fazem mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo é servido, e tem quem lhe busque capim, tem pano para o suor, sela e freio dourado.”
Chegamos ao século XX com uma pseudo “libertação dos escravos”, uma ‘libertação’ sui generis, na qual africanos e seus descendentes foram sumariamente postos no meio das ruas, sem qualquer direito. Enquanto seus antigos senhores eram indenizados por perdê-los, eles não só nada recebiam para começar a nova vida de ‘libertos’, como era-lhes legalmente inviabilizada a compra de terra para se instalarem, caso tivessem dinheiro para isso.
O cenário do início do século passado nos revela um Brasil teoricamente sem escravizados, mas portador de uma desigualdade monstruosa: para os brancos, tudo, de latifúndios a comércios, de faculdades a estudos na Europa; para indígenas e negros, quando muito o trabalho no campo, em geral ainda como semi-escravizados, ou os cortiços nas cidades. Raramente alfabetizados, eram perseguidos pela polícia, tratados como vagabundos e logo, no campo e nas cidades, substituídos por migrantes europeus para “melhorar a raça” nas políticas de embranquecimento.
Ao longo dos 100 últimos anos muita coisa melhorou, é verdade, sempre como resultado de muita luta. Tivemos a conquista das ações afirmativas. Indígenas e afrodescendentes vêm chegando às universidades e a alguns cargos públicos, mas em quantidades que, embora configurem vitórias, são ridiculamente pequenas, se considerarmos que a maioria da população brasileira é negra, cerca de 56% de acordo com as estatísticas oficiais (IBGE).
Acontece que o racismo permaneceu profundamente entranhado na nossa cultura. Não importa que a realidade aponte ser raro alguém dentre nós que tenha apenas sangue europeu nas veias. Culturalmente, grande parte dos ditos brancos brasileiros se considera de alguma forma superior. Entendem negros como trabalhadores braçais, que devem estar a postos para servi-los; consideram o indígena um inútil preguiçoso, que ocupa territórios que precisam ser deles libertados e entregues ao capital e ao desenvolvimento. E essa visão se estende às outras populações tradicionais, como ribeirinhos, pescadores, camponeses, e tantos outros.
Nesse cenário em que o racismo estrutural predomina e que o preconceito é naturalizado por grande parte da população, o racismo ambiental é igualmente algo que não preocupa. Ao contrário, na maioria das vezes é facilmente ‘justificável’ e assimilável. Mais: é cômodo, inclusive, numa sociedade que ainda considera normal ter empregados domésticos.
Aliás, é necessário considerarmos ainda a questão “origem”, no que toca ao racismo (e ao Racismo Ambiental) entre nós. Em grande parte do Sul/Sudeste, mas também no Centro-Oeste, nordestinos e nortistas são igualmente vistos e tratados como ‘não brancos’. Não é sem motivo que, além dos negros, são principalmente eles que habitam as grandes favelas e periferias inóspitas das nossas grandes cidades, para onde foram de alguma forma expulsos. E isso se dá ao ponto de São Paulo merecer o epíteto de maior cidade nordestina fora do Nordeste, por mais que isso desagrade os moradores dos ‘jardins’ e os ‘empreendedores’ da avenida Paulista.
Parece-me desnecessário dizer que o Racismo Ambiental é, acima de tudo, um instrumento de valor inestimável para o capital e que vem merecendo tratamento especial por parte da barbárie neoliberal. Ou enfatizar que, desde o golpe de 2016, essas populações – povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, no campo, e negras, negros e nordestinos moradores de comunidades urbanas – vêm sendo mais que nunca discriminadas, sacrificadas, assassinadas. Se há leis que deveriam protegê-los, do famoso capítulo “Dos Índios” da nossa Constituição a estatutos e tratados internacionais, inclusive com caráter supra-legais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a verdade é que cada vez mais eles são ignorados, o que vem levando o País até mesmo a ser interpelado internacionalmente.
A luta contra o Racismo Ambiental entre nós envolve uma questão de fundo: o território. É ele, acima de tudo, que está em disputa quando o arco do desmatamento avança cada vez mais, recriado nos matopibas do agronegócio; quando falsos garimpeiros ou mineradoras desmatam, revolvem as terras, afogam nascentes, contaminam rios, constroem suas barragens envenenadas e suas montanhas de rejeitos; ou quando grandes projetos governamentais demarcam seus percursos e suas extensões. No caminho para esse ‘progresso’, junto com as matas, a terra e as águas, são igualmente revolvidos, contaminados e sumariamente deslocados, quando não executados, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Flora e fauna juntos, o Cerrado, a Amazônia e, agora, até mesmo o Pantanal desaparecendo.
Alijados de seu território, muitos não sobrevivem, como sabemos. E isso não diz respeito apenas aos povos indígenas, na maioria ainda profundamente dependentes de sua relação com a natureza. Belo Monte foi particularmente impiedosa também com os ribeirinhos, por exemplo, lançando-os em conjuntos habitacionais inumanos, construídos na aridez de bairros onde a distância do rio – sua ligação maior com o mundo – condena-os a serem ‘nadas’: sem profissão, sem meios de vivenciar seus conhecimentos, sem condições de sentirem e vivenciares seus direitos de dignidade, de ser gente. Em Alcântara, situação semelhante já aconteceu e ameaça acontecer de novo com quilombolas, expulsos da costa e alijados de sua ligação com o mar, enquanto o Brasil oferece magnanimamente boa parte do território aos Estados Unidos.
Mencionei já os moradores das favelas e periferias das grandes cidades, muitos dos quais em algum momento expulsos dos seus territórios de origem. Novamente, aqui estão eles, ainda buscando o seu espaço, o seu ‘território’, o direito que a própria Constituição lhes reserva à moradia com dignidade, mas que os ‘detentores do Poder’ não respeitam. São, isso sim, invadidos por novas agressões, como lixões e indútrias poluentes, ou novamente expulsos à medida em que a cidade cresce, e a especulação imobiliária elege novos limites para os seus interesses.
Há uma frase de Milton Santos que nunca me canso de citar e que gostaria de socializar com vocês:
“O território é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os brasileiros. Ele é, também, o repositório final de todas as ações e de todas as relações, o lugar geográfico comum dos poucos que sempre lucram e dos muitos perdedores renitentes, para quem o dinheiro globalizado – aqui denominado ‘real’ – já não é um sonho, mas um pesadelo”. (2)
E com isso chegamos aos dias de hoje…
No que se refere ao meio-ambiente, o que o atual governo pratica pode ser chamado de necroambientalismo, seguindo as determinações de um capitalismo de barbárie. Não estamos sozinhos no que se refere a necropolíticas, mas ignoro se em algum outro país a falta de pudor e a desfaçatez de atos e falas de caráter neofacista fazem parte do cotidiano como aqui entre nós. Falar sobre Racismo Ambiental e denunciar sua prática é, pois, uma obrigação.
Nos dias que antecederam o segundo turno das eleições presidenciais, há dois anos, servidores do ICMBio, do Ibama e da Funai trocavam mensagens tensas. Informavam uns aos outros que suas famílias já estavam a caminho de outros estados, e que já estavam preparados para, dependendo do resultado da votação, deixar seus postos e partir no intervalo das 48 horas seguintes. Muitas e muitos assim o fizeram, deixando para trás comunidades agora desassistidas e escritórios vazios. Buscavam se preservar e sobreviver, ante a verdadeira avalanche de ameaças diretas que vinham recebendo pelos mais diferentes meios, sobre “novos tempos” que estavam chegando. E agiram certo.
O primeiro presidente do Instituto Chico Mendes nomeado pelo atual governo ficou três meses no cargo. Enviou carta de demissão após participar de evento no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Rio Grande do Sul, no qual viu e ouviu o ocupante do Ministério do Meio Ambiente ameaçar publicamente os servidores do órgão. Foi substituído por um coronel da Polícia Militar de São Paulo, numa atitude que se repetiria ao longo dos últimos meses.
Desde então, ICMBio e Ibama foram cada vez mais esvaziados em termos orçamentários, tiveram suas chefias e coordenações técnicas substituídas por PMs e testemunharam o exílio de quadros altamente especializados para locais remotos, onde todo o conhecimento por eles acumulados seria inútil.
Punições e proibições (inclusive impedindo entrevistas e divulgação de informações por parte de especialistas e de chefias), desautorizações e ameaças foram gradativamente colaborando também para que os servidores cada vez menos se vissem em condições de cumprir suas funções. E, se o quadro institucional era esse, por que a prática daqueles que os órgãos deveriam fiscalizar deveria ser diferente?
Na região Norte, principalmente, funcionários do Ibama e do ICMBio veriam várias vezes as ameaças se tornarem reais, cercados e expulsos por capangas de grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros tantos, e obrigados a abandonar máquinas e equipamentos que haviam apreendido. Eventualmente, as intimidações chegaram ao ponto de quase serem queimados vivos dentro de seus veículos de trabalho.
Em agosto de 2019, à frente de uma ação que envolvia também agentes federais, o coordenador de Operações de Fiscalização do Ibama e demais servidores foram recebidos a tiros por garimpeiros na Terra Indígena Ituna Itatá, entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará.
Embora formalmente em outro Ministério, o quadro não seria muito diferente na Funai, exceto por um ‘detalhe’: no início de setembro de 2019, o indigenista Maxciel Pereira dos Santos foi assassinado na frente de seus familiares no município de Tabatinga, Pará. Nesse caso, as ameaças se concretizaram no seu nível máximo.
Até onde sei, em nenhum desses casos houve punição, descoberta de mandantes, prisão ou algo que o valha. Nesse faroeste que vem acontecendo principalmente na região Norte, é a impunidade que grassa, a conivência, o cinismo, a desumanização.
As investigações sobre o chamado “Dia do Fogo”, de 10 de agosto de 2019, deram em nada, apesar de todo o escândalo internacional. O fato de que o Ministério Público Federal havia comunicado ao Ibama, três dias antes, que o atentado estava sendo acertado por whatsapp – ou que a resposta foi de que nada poderiam fazer, por “falta de segurança para as equipes”, já não podiam contar sequer com o apoio da Força Nacional – parece sequer ter sido levado em consideração. Como podemos então ficar surpresos este ano com a repetição dos incêndios criminosos na Amazônia e no Pantanal?
Aliás, como pensar em punição, se em grande parte das chacinas, como a de Pau d’Arco, são policiais os executores? Se na intimidação a povos indígenas, quilombolas, pescadores, sem terras, ribeirinhos e outras comunidades aqueles que deveriam defendê-los e investigar quem os ataca muitas vezes aceitam de bom grado o papel de capangas de seus opressores?
*
Etnocídio, genocídio, ecocídio. Se isso é o que vem acontecendo com servidores federais no campo, o que vemos nas cidades é apenas uma versão adaptada ao cenário urbano, dos morros às periferias. No início de 2019, o Rio de Janeiro mereceu destaque paradigmático, com seu governador-juiz-hoje-afastado que desde antes de empossado incentivava a Polícia Militar a atirar e matar, “mirando nas cabecinhas”.
Segundo o Atlas da Violência 2020, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2008 e 2018 os casos de homicídio de pessoas negras (pretas e pardas) aumentaram 11,5%. No mesmo período, a taxa entre não negros (brancos, amarelos e indígenas) fez o caminho inverso, apresentando queda de 12,9%. Nas favelas e periferias urbanas, policiais, traficantes e milicianos disputam as estatísticas das mortes, entre as quais crianças estão cada vez mais presente.
Divulgado esta semana, o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostra que mais de 74% das vítimas de mortes violentas em 2019 no Brasil são de pessoas negras. O número é ainda mais violento no que se refere à Polícia: pretos e pardos correspondem a 79,1% das vítimas de assassinatos provocados por agentes de segurança pública no período.
No final do ano passado, Mônica Francisco – pastora evangélica, cientista social e deputada estadual do Rio de Janeiro – deu uma entrevista contundente, na qual dizia que o que temos hoje “não é mais o capitalismo selvagem dos anos 80 e 90. É o capitalismo de barbárie, que precisa organizar esse excedente populacional de alguma maneira. Ele organiza encarcerando; os que não consegue encarcerar, mata.”
Discordo exatamente desse trecho final da análise dela. No estágio atual, a barbárie e a necropolítica organizam matando. Os que não conseguem matar é que são encarcerados, talvez para morrer mais lentamente.
Seguindo essa política de necroambientalismo, quiçá em breve não tenhamos mais qualquer problema de racismo no País. Considerando que a maioria desses assassinados são jovens, mantendo-se a mesma taxa ou incrementando-a um pouco talvez daqui a alguns anos o embranquecimento tenha se tornado uma realidade no País.
*
A atual pandemia é uma auxiliar importante nesse quadro abjeto, aliás. Para o atual governo, a Covid-19 se oferece como uma “solução final natural”, embora seja também ela consequência da nossa ação sobre o meio ambiente. Não é sem motivos que a palavra “genocídio” vem sendo tão usada entre nós, ou que Achile Mbembe se tornou um autor tão citado: a necropolítica está dando as cartas no Brasil.
No campo, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais estão tendo que lutar muito, felizmente com alguns apoios extra-oficiais, para se manter em isolamento e garantir seu direito às políticas públicas, à saúde, à vida, enfim. Segundo levantamento da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), até as 12:10 de hoje, 21/10, 37,349 indígenas haviam sido contaminados pela Covid, com um total de 857 mortes e 158 etnias atingidas. Os dados para os quilombolas, disponibilizados pela Conaq e ISA, registravam 4.604 casos confirmados e 167 mortos.
Para um governo que tem como uma de seus estratégias permitir que esses territórios sejam entregues à mineração, ao desmatamento, ao agro-hidro-negócio e que se permite vetar até mesmo o fornecimento de água potável a esses povos, defender o não isolamento, tratamentos fajutos e a inação ante a agressão do vírus são estratégias perfeitas para permitir que a pandemia faça seu trabalho. E o mesmo pode ser dito em relação às cidades, onde as comunidades das favelas e das periferias são as mais vulneráveis à Covid.
Sou coordenadora-executiva de um projeto na Fundação Osvaldo Cruz que pesquisa e disponibiliza na internet os mais graves conflitos socioambientais existentes no País, desde 2010. É o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, e ao longo destes dez anos chegamos já a um total de 605 casos, fora os que estão sendo pesquisados. De uma forma ou de outra, praticamente em todos o pano de fundo dos conflitos tem a ver com disputas pelo território. Para termos uma ideia da presença do racismo ambiental em nosso País, vale dizer que, nesse universo, 177 casos refletem lutas de povos indígenas por seus direitos; 133, de quilombolas; 194, de camponeses; 100, pescadores artesanais; 68, ribeirinhos; 64, de comunidades urbanas. E isso para citar os mais numerosos.
O que estamos vivendo hoje no Brasil é um grande pesadelo. Com o agravante que nos parece inacreditável – principalmente para pessoas que, como eu, viveram também os tempos da ditadura de 1964-1985 – de termos chegado essa situação abjeta através do voto. O que temos hoje é um quadro em que todas as conquistas que resultaram de tantas lutas estão sendo postas abaixo, destruídas. A própria democracia se esvai, à medida em que a Constituição de 1988 é cada vez mais desrespeitada. E, assim como com racismo não há verdadeira democracia, sem democracia é impossível desmontarmos as diversas caras do racismo. Não por acaso, centenas de organizações brasileiras encaminharam já ao Tribunal Penal Internacional (TPI) pedidos para que a Corte de Haia instaure procedimento para averiguar a conduta do atual ocupante do Planalto diante da pandemia e condená-lo por crime contra a humanidade.
*
A Covid 19 um dia passará, e após ela virão outros coronavírus e outras pandemias conjunturais. Já o nosso combate contra o racismo e pela democracia tem que ser acima de tudo cultural, no sentido emprestado por Antonio Gramsci à Cultura, enquanto concepção de mundo justa, enquanto filosofia que tenha gerado uma ética, um modo de viver, enquanto “religião laica” que nos impulsione à luta.
Acho essa a mais bela definição para Cultura, de todas as que busquei ao longo da minha vida. Uma cultura que é ao mesmo tempo um ser e um vir a ser, presente e futuro, angústia e sonho.
Religião, sim. Laica! Mas com o poder de uma crença. Com a força de algo que não é mero produto de leituras e reflexões objetivas, mas sim nos penetra, nos possui, nos toma e nos exige na luta pelo que consideramos e sentimos ser o justo, o correto, o digno, o humano.
Ao longo dos últimos meses, muitas e muitos de nós adoecemos. E não estou falando da Covid. A mim me atinge acima de tudo a falta de pudor e até um certo orgulho com que muitos ostentam atualmente o racismo, a misoginia, a lgbtqifobia, a ignorância, o ódio, a defesa, até, de assassinos, torturadores e estupradores. Mas, na verdade, o novo é apenas isso: a ostentação. A falta de empatia, a arrogância, a ausência de solidariedade, a desumanização, podemos dizer, existiram desde sempre em alguns, talvez em muitos. Faltavam apenas alguns ingredientes para que a massa fermentasse e explodisse, e eles vieram em individualismo, empreendedorismos, teorias da prosperidade e outros filhotes bastardos do neoliberalismo, que por sua vez viabilizaram o atual neofascismo.
Não adianta falarmos de Racismo Ambiental sem enfrentarmos o desafio muito maior que temos adiante: revolucionar a nossa concepção de mundo, refundar dentro de nós a capacidade de indignação, redescobrir a utopia.
Somos pessoas privilegiadas. Somos aquelas e aqueles que, não importa com quanto esforço, chegamos à academia e podemos estar aqui durante algumas horas, trocando conhecimento. Devemos isso e muito mais à grande maioria que jamais terá esta chance ou mesmo algo parecido com ela. Aos milhares, milhões, aos quais a cidadania plena é cada vez mais negada.
Enquanto não formos capazes de recusar radicalmente as desigualdades, a exploração do trabalho, o preconceito, a naturalização da miséria e este crescente nazifascismo, fazendo de tudo isso um alimento para a nossa indignação e a força das nossas lutas, as políticas da morte prevalecerão.
Exatamente por isso, gostaria de deixar com vocês um texto que me acompanha há muitos anos, como a minha bússola particular:
“O elemento popular ‘sente’, mas nem sempre compreende ou sabe; o elemento intelectual ‘sabe’, mas nem sempre compreende e, muito menos, ‘sente’. (…) O erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem compreender e, principalmente, sem sentir e estar apaixonado (não só pelo saber em si, mas também pelo objeto do saber), isto é, em acreditar que o intelectual possa ser um intelectual (e não um mero pedante) mesmo quando distinto e destacado do povo-nação, ou seja, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as e, assim, explicando-as e justificando-as em determinada situação histórica, bem como relacionando-as dialeticamente às leis da história, a uma concepção do mundo superior, científica e coerentemente elaborada, que é o ‘saber’. Não se faz política-história sem esta paixão, isto é, sem esta conexão sentimental entre intelectuais e povo-nação”. (5)
Não por acaso, Gramsci lutava contra o fascismo, quando escreveu esse texto. Que saibamos aceitar seu desafio e fazer a nossa parte, agora e sempre.
Out.2020
–
Notas:
(1) Este texto serviu de abertura para o webinar “Potências Coletivas – Aulão 3 – Racismo Ambiental – O que que eu tenho a ver com isso?”, organizado por Mídia Ninja e Greenpeace, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com apoio de Oca – Laboratório de Educação e Política Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo (USP/Esalq). Realizada em 21/10/2020, a aula teve mediação de Isis Maria, da Mídia Ninja, e a participação de Tania Pacheco e de Ieda Leal, Coordenadora Nacional do Movimento Negro Unificado – MNU.
(2) BULLARD, Robert D. Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots. South End Press, 1993.
(3) Sobre esse início e ainda sobre o Racismo Ambiental no Brasil, ver PACHECO, T. & FAUSTINO, C. “A iniludível e desumana prevalência do racismo ambiental nos conflitos do mapa“. In: Porto, Marcelo Firpo; Pacheco, Tania; Leroy, Jean Pierre. Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013.
(4) Milton Santos: “O chão contra o cifrão”. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 fev. 1999. Caderno Mais, p.5
(5) GRAMSCI, Antônio. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. p.139.