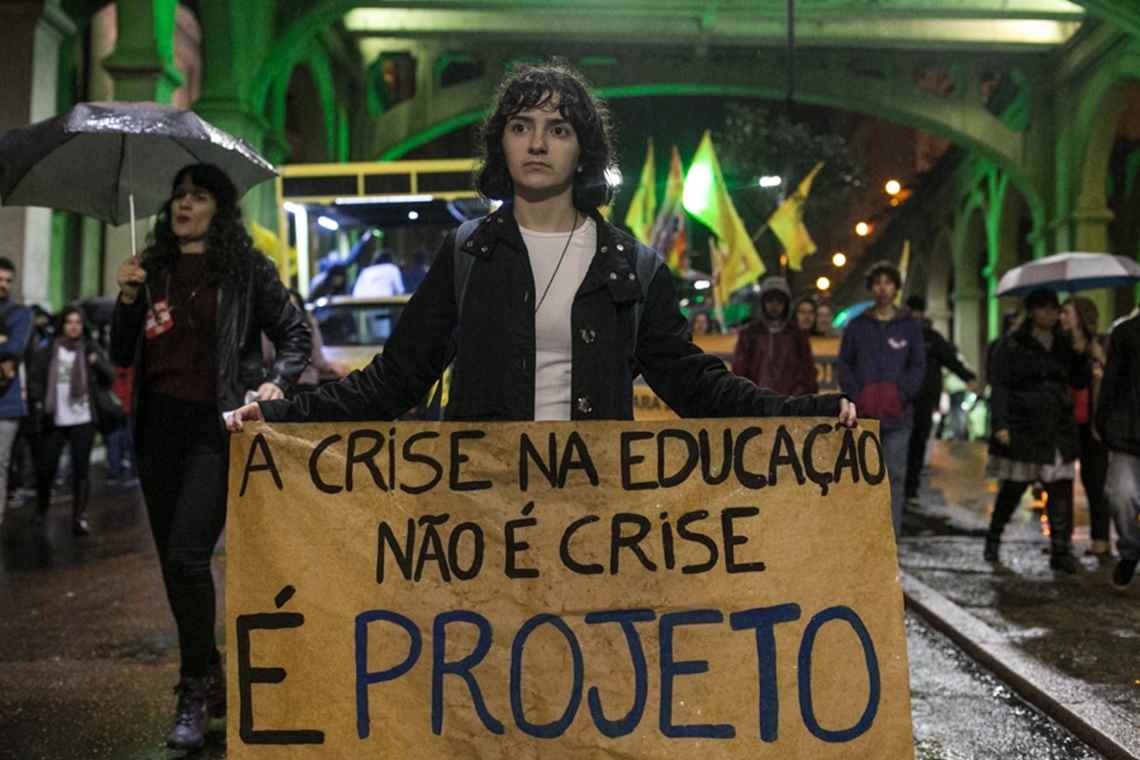Se tem gente que surpreendeu com “o que o Brasil virou” nos últimos anos, é porque talvez nunca tenha prestado muita atenção ao país antes disso. Como se tivesse passado a vida olhando para o outro lado. E isso não é raro. Afinal, a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos. Precisamos de bons espelhos. Para uma nação, um desses espelhos pode ser a literatura.
Rubem Fonseca, que deixou o Brasil e os demais países do mundo na semana passada, era um mestre quando se tratava de nos mostrar o país dividido e carregado de ódio e violência que muitos teriam preferido não ver. Aos olhos do Brasil de 2020, é uma literatura que parece muito familiar.
Quem resolver conhecer ou revisitar os dois contos Passeio noturno, por exemplo, vai encontrar ali o brasileiro de bem, empresário, pai de família, presumivelmente branco e dono de um belo Jaguar preto, que usa para sair à noite e atropelar mulheres em ruas escuras do subúrbio, divertindo-se com o som dos corpos sendo esmigalhados sob o peso do “motor bom” do autmoóvel, que “ia de zero a cem quilômetros em nove segundos”. Nesse tesão sublimado pela morte e pelo automóvel, é fácil reconhecer os brasileiros brancos e cidadãos de bem que ontem foram para as avenidas em seus carros pedir reabertura dos comércios e a volta da ditadura. Mais dinheiro, mais doentes, mais dor, mais carros, mais mortes, tudo em nome de seu presidente lunático.
Só quem nunca leu ou não prestou suficiente atenção em Rubem Fonseca é capaz de se surpreender com a ignorância e o truculência que nos últimos anos saltou à frente do palco da vida nacional. Tudo isso sempre comeu solto nos bastidores, para onde Rubem Fonseca olhava. “Tão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol”, brada o protagonista de O cobrador, enquanto tenta, de arma na mão, cobrar tudo o que lhe havia sido negado a ele desde sempre, usando da mesma fúria com que o narrador de Feliz ano novo caga na colcha lisinha de cetim do quarto perfumado da mansão de ricaços em que executa uma chacina. A mesma fúria, nascida da fome, com que as famílias pobres retalham uma vaca atropelada em Relato de ocorrência.
Fonseca não era um autor realista. Como o escritor Roger Franchini (que também foi policial, como o carioca) aponta neste belo artigo, nada mais distante do mundo real do que o universo policial descrito por Fonseca. O mesmo Roger, porém, não deixa de reconhecer como Fonseca usava suas mentiras para produzir grande literatura, o que, afinal, é um jeito torto que a arte tem de chegar a alguma verdade.
O universo retratado por Fonseca é tão carregado de violência que chega a corromper mesmo um personagem como o delegado Vilela de A coleira do cão: um tipo humanista e leitor de Drummond, que se revolta com as prisões sem motivo e as torturas sistemáticas praticadas “sem ódio”, mas com método, pelos seus colegas. Na primeira oportunidade, contudo, em que empunha uma arma diante de um suspeito, Vilela resolve atirar na cabeça dele, sem qualquer motivo além da súbita vontade de matar alguém.
É fácil ver a sombra do delegado Vilela em muita gente educada e de fala mansa que vemos por aí. São delegados Vilela os economistas com diplomas da Universidade de Chicago e professores do Insper que chancelam a barbárie de governos como o de Bolsonaro em nome da civilização das reformas econômicas liberais. Gente como os governadores tucanos de São Paulo, que têm nojinho da retórica desbocada do bolsonarismo, mas, quando empunham as armas das suas corporações policiais, são capazes de compactuar com os piores crimes. O governo Geraldo Alckmin, sob o comando temporário interino de Claudio Lembo, foi responsável por matar em dez dias mais do que a ditadura militar em 20 anos durante os Crimes de Maio de 2006: nunca devemos nos esquecer disso.
Toda a brutalidade que o bolsonarismo vomita hoje em nossas caras sempre esteve por aí, talvez só um pouco mais disfarçada, sendo antes perpetrada por gente que falava sem ódio nem palavrões,QUE sabia usar os talheres e os pronomes e não colocava leite condensado no pão. Naquele tempo, os mais otimistas, e desligados, até podiam acreditar que o Brasil fosse um lugar pacífico, uma democracia de raças, gêneros e classes que viviam em uma harmonia malemolente e sensual, como nas obras de Gilberto Freire e Jorge Amado, esses, sim, um time de autores que mostravam espelhos em que o Brasil gostava de se enxergar.
Se a gente quiser extrair algo de bom da desgraça trazida pelo bolsonarismo, pode ser o reconhecimento de que a triste figura de Bolsonaro não foi um acidente, nem um desvio. Bolsonaro é o que o Brasil sempre teve de pior, mas agora exposto na frente de todo mundo, de um jeito que torna impossível não ver. Reconhecer isso, que o Brasil sempre teve muito mais a cara sangrenta e cagada dos contos de Rubem Fonseca do que o ambiente ensolarado e sorridente de Jorge Amado, talvez seja o primeiro passo para a gente começar a sair desse buraco.
–
Fausto Salvadori é editor e repórter da Ponte Jornalismo
Imagem: Hieronymus Bosch: Cristo carregando a cruz