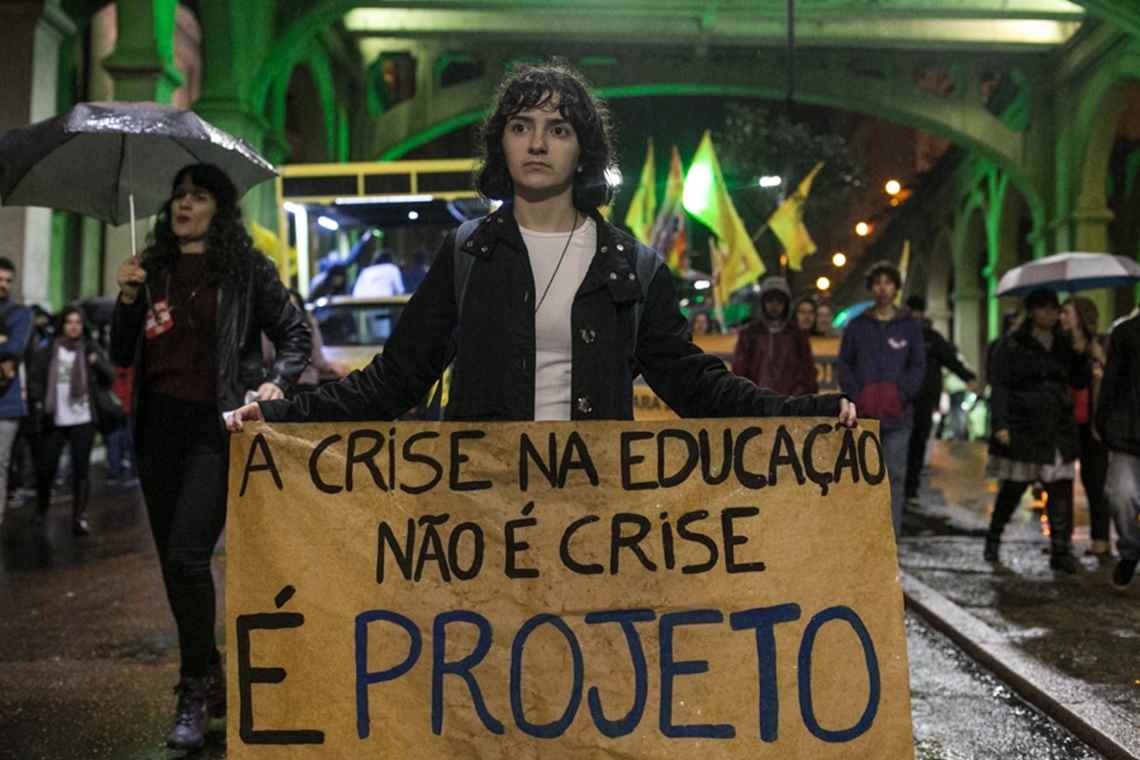Carlinhos foi morto e decapitado em 2008 por policiais que confundiram sua deficiência intelectual com deboche. A absolvição dos suspeitos foi um duro golpe para a mãe do jovem, Maria da Conceição, que morreu pouco depois. O restante da família segue na luta
Na Ponte*
Em seus 39 anos de vida, houve uns poucos segundos em que Vânia Lúcia da Silva perdeu a fé em Deus. Foi em 10 de outubro de 2008, quando reconheceu o cadáver do irmão, Antonio Carlos da Silva, numa gaveta do IML (Instituto Médico Legal) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.
“Será que Deus existe e deixa um filho Dele nesse estado?”, pensou ao ver o que restava de Carlinhos. O corpo não tinha cabeça, nem mãos. Na barriga, exibia um corte em forma de cruz, talhado pelos assassinos para facilitar o afundamento do corpo no córrego onde havia sido encontrado. Vânia não conseguia entender como alguém podia ter sido tão cruel com seu irmão, jovem com deficiência intelectual que, para a família, era como uma criança.
Vânia reconheceu o corpo decapitado por causa de uma tatuagem no braço esquerdo. O desenho havia sido feito anos antes por um vizinho da família, que estava aprendendo a fazer tatuagens e resolvera usar Carlinhos como cobaia. Sem entender direito o que se passava, Carlos deixou o vizinho tatuar em seu braço o rosto de um diabo com chifres e cavanhaque. Quando viu a tatuagem, a mãe de Carlinhos, Maria da Conceição Ferreira Alves, ficou muito brava e exigiu que o vizinho refizesse o desenho. O jeito encontrado pelo aspirante a tatuador foi cobrir o diabinho com um desenho tosco de teia de aranha.
— Enquanto alguém da família não aparecia para explicar aos policiais que Carlinhos tinha problemas mentais, eles ficavam torturando ele. Várias vezes jogaram spray de pimenta no meu filho — conta Antônio Alves, pai de Carlinhos.
E por que faziam isso? O pai responde numa palavra:
— Maldade. É isso. Não tem outra explicação.
O que a família não imaginava é que a maldade fardada pudesse ir tão longe, desembocando no corpo decapitado que Vânia reconheceu naquela madrugada de 10 de outubro.
Carlinhos era assim. Ingênuo e infantil, virava alvo fácil para as crueldades do mundo, de tatuagens indesejadas a violências. No Jardim Capela, bairro pobre na zona sul de São Paulo, onde morava, quando acontecia de ser abordado por uma viatura da Polícia Militar, quase sempre acabava espancado. Como não entendiam o que o jovem falava, os policiais militares imaginavam que estivesse zombando deles e por isso batiam nele.
Maria e Antônio se conheceram por volta de 1975, em um escadão do Jardim Capela. Ele subindo, ela descendo, cruzaram olhares e caminhos. Tinham a mesma idade e eram ambos nordestinos: Maria, de João Pessoa, Paraíba; Antonio, de Salvador, Bahia. Casaram-se em 1977, aos 17 anos. No mesmo ano, nasceu Carlinhos. Logo nos primeiros meses, os pais perceberam que o menino tinha algo de diferente.
Leia também: Debates marcam a semana dos 15 anos dos ‘Crimes de Maio de 2006’
Diferenças ainda mais evidentes com a chegada do segundo filho, Emerson, em 1978. Enquanto o caçula já falava tudo e andava para todos os lados, Carlinhos mal conseguia balbuciar as primeiras palavras e ainda caminhava tropeçando. Na década seguinte, os meninos ganharam a companhia de duas irmãs: Vânia, em 1982, e Valquíria um ano depois. O primogênito não conseguia pronunciar o nome de nenhum dos irmãos: chamava Emerson de Messinho, Vânia virava Faninha e Valquíria era Fatila.
— Ele nunca aprendeu a falar direito. Conversava numa língua só dele. Só minha mãe entendia tudo o que ele dizia — lembra Valquíria-Fatila.
Maria da Conceição fez tudo o que podia para encontrar profissionais que pudessem ajudar Carlinhos a lidar com suas deficiências, mas esbarrou na falta de opções disponíveis na periferia. Nem mesmo a educação pública tinha espaço para ele. Na Escola Estadual Samuel Morse, onde estudou, ficou quatro anos retido na primeira série do ensino fundamental. Vendo que não conseguia ensinar nada a Carlinhos, a professora passou a usar o estudante para capinar o mato que crescia nos fundos do prédio escolar, sem autorização da família.
O menino ingênuo tinha se tornado vítima de um agente do Estado que deveria protegê-lo – e não seria a última vez. Quando descobriu que a professora usava seu filho, Maria não teve dúvida. Tirou Carlinhos da escola.
Com atividades manuais, Carlinhos era talentoso. Vivia consertando bicicletas para amigos e sobrinhos. Com o pai, aprendeu o ofício de pintor e começou a fazer pequenos trabalhos. A família ficava de olho para que não fosse enganado nos pagamentos, já que Carlinhos não entendia de dinheiro: só conhecia “real” e “mei real” (50 centavos). Não sabia nem a própria idade: para quem perguntasse, respondia sempre “17 anos”, mesmo após ter passado dos 30. Em qualquer idade, sempre gostou de música. Adorava o rap dos Racionais, a quem chamava de Lalanais, e vivia canta rolando “Vida Loka (parte 1)”, naquela língua que só ele falava e apenas sua mãe compreendia.
Leia também: Mães de Maio, Defensoria e Conectas denunciam desaparecimentos de vítimas dos Crimes de Maio na OEA
Em 2008, tinha conseguido um emprego como pintor de casas para o dono de uma imobiliária. Além de ajudar em casa, guardava parte do dinheiro que recebia para comprar uma calça de moletom e uma camiseta, que pretendia usar no Natal.
—O emprego pagava pouco, era mais para tirar ele da rua — lembra Vânia.
Após sair do IML, ainda desnorteada, Vânia não teve forças para falar com a mãe, que esperava em casa por notícias. Preferiu telefonar para a irmã, Valquíria, e pediu que ela contasse o que tinha visto.
A reação de Maria da Conceição foi uma só: gritar. Gritar e gritar sem parar. Em meio aos gritos, uma promessa. A de que lutaria até o fim para conseguir a punição dos matadores de seu filho.
A família tinha motivo para querer vê-lo longe das ruas, pois temia a violência do bairro – especialmente dos policiais.
— Quem mora aqui tem muito mais medo da polícia do que dos bandidos — conta Antônio. — Um bandido rouba o seu celular e vai embora. O policial, além de roubar, te espanca, te esculacha e pode te matar.
O Jardim Capela tem motivo para temer a polícia. O bairro fica na área de atuação do 37º BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano), que os moradores locais chamam de “curva de rio”, por supostamente abrigar alguns dos piores policiais da cidade, vários deles ligados a grupos de extermínio.
Tanto que uma das chacinas mais rumorosas da década passada, a morte de sete pessoas ocorrida em 4 de janeiro de 2013 no Jardim Rosana, entre elas do rapper DJ Lah, do grupo de rap Conexão do Morro, foi obra de policiais do 37º. Também no mesmo batalhão surgiu um grupo de policiais assassinos conhecidos como “Highlanders”. Sua marca: cortar cabeças e mãos das suas vítimas.
Na tarde de 8 de outubro de 2008, Vânia saiu para comprar pão na esquina de casa. Uma viatura da Força Tática, espécie de grupo especial de cada batalhão da PM, passou por ela. Viu que os policiais da frente levavam alguém entre eles, forçando-o a ficar agachado dentro do carro.
Assim que atravessou a rua, uma vizinha veio avisá-la: “A polícia pegou seu irmão”. Tinham dado uma “gravata” nele e jogado o jovem dentro da viatura. Outro morador anotou a placa: modelo Blazer, CMW-5209. Vânia compreendeu que o ocupante escondido no carro só podia ser Carlinhos.
A família saiu em busca de Carlinhos. Pais e irmãos andaram pelo bairro, conversaram com pessoas, visitaram delegacias e hospitais. Nada. No dia seguinte, foram até o 37º Batalhão. Ali, um dos policiais confirmou a Maria da Conceição que havia passado pelo Jardim Capela na tarde anterior, mas alegou não ter visto Carlinhos.
— Moço, se o senhor encontrá-lo, por favor, não judie dele nem o deixe jogado. Entre em contato conosco que iremos buscá-lo. Ele não vai saber voltar sozinho e vai se perder — pediu a mãe. Sem responder, o PM abaixou a cabeça e saiu.
Anos depois, numa carta dirigida à Presidência da República, Maria escreveria a respeito do encontro: “Mal sabia eu que aquele policial, que minutos antes eu havia chamado de senhor, era um dos assassinos do meu filho”. Em 10 de outubro, dois dias após o sumiço de Carlinhos, Vânia foi chamada ao IML de Taboão da Serra para identificar um corpo decapitado. Os policiais civis mostraram primeiro a roupa dele. Reconheceu na hora a bermuda azul, o moletom marrom que Carlinhos levava para todo lado e a camiseta amarela coberta de manchas de tinta do trampo de pintor.
Leia também: Seis anos depois, promotora que caluniou Mães de Maio segue sem punição
Mesmo assim, enquanto andava em direção à sala onde estava o cadáver, Vânia rezava esperando encontrar o corpo de outra pessoa. Na hora em que bateu o olho na tatuagem tosca de teia de aranha no corpo sem cabeça, porém, entendeu que aquela esperança estava perdida.
Nos dias seguintes, mesmo tendo reconhecido tanto a roupa como o corpo do irmão,Vânia continuou, ali bem dentro dela, a alimentar uma esperança louca de que o exame de DNA, previsto para sair dali a duas semanas, indicasse que o corpo não era de Carlinhos.
— Eu sabia que era Carlinhos, mas rezava para que não fosse — diz.
Foi sua segunda esperança partida. O teste de DNA comprovou que o morto era, mesmo, seu irmão. Pelo menos, serviu para garantir uma sepultura identificada a Carlinhos. É que, apesar do reconhecimento formal da família, Carlinhos havia sido enterrado como indigente, sem direito a um nome, no cemitério Recanto do Silêncio. Após o resultado do DNA, a família conseguiu transferir os restos mortais para o Memorial Parque das Cerejeiras.
No segundo sepultamento do filho, Maria da Conceição fez questão de colocar no caixão o moletom e a camiseta que Carlinhos havia comprado para usar no Natal.
Após enterrar Carlinhos, a família agora se agarrava a uma terceira esperança: a punição dos assassinos. Luta difícil e perigosa, todos sabiam.
— As pessoas falam: “é a polícia que matou, deixa para lá, você é doida de mexer com eles”. Mas a gente não deixa, não. Carlinhos tinha família — conta Vânia.
A irmã de Carlinhos tinha visto bem a cara dos policiais que o arrastaram para a viatura e podia reconhecê-los. O difícil era convencer as autoridades disso. Quando procuraram a Corregedoria da PM, a família foi humilhada. “Fomos tratados como bandidos. Ficaram perguntando se Carlinhos usava droga, se estava devendo para traficante”, recorda Vânia.
Na Delegacia Seccional de Taboão da Serra, contudo, houve um investigador chefe, Ivan Jerônimo da Silva, que levou o depoimento de Vânia a sério e, com base no testemunho dela e em outros indícios, conseguiu na Justiça a prisão temporária de quatro PMs do 37º Batalhão suspeitos de participação na morte de Carlinhos: Moisés Alves Santos, Joaquim Aleixo Neto, Anderson dos Santos Sales e Rodolfo da Silva Vieira. Eles sempre negaram a autoria do crime.
As investigações de Ivan apontaram que os suspeitos fariam parte dos Highlanders, grupo de nove policiais, todos do mesmo batalhão, que teriam matado e decapitado 12 pessoas na região. O apelido era uma referência a um filme hollywoodiano de 1986, com Sean Connery e Christopher Lambert, sobre um grupo de guerreiros imortais que eliminam os oponentes cortando suas cabeças. Fantasias à parte, porém, o comportamento dos matadores era muito diferente dos heróis em que se espelhavam.
Leia também: Projeto de lei Mães de Maio quer apoiar vítimas da violência estatal em SP
Os guerreiros imortais do filme Highlander podiam ser heróis ou vilões, mas mesmo os malvados eram guerreiros corajosos que eliminavam os oponentes em batalhas grandiosas e respeitavam a determinação de não combater em “locais sagrados”, como igrejas. Já os Highlanders da Polícia Militar de São Paulo matavam somente pessoas indefesas, usando armas brancas para disfarçar o vínculo com a polícia e cortando mãos e cabeças para atrapalhar as investigações. Para eles, nada era sagrado. Tanto podiam matar um jovem com deficiência cognitiva como ameaçar avós e crianças que se colocassem em seu caminho.
Maria, Vânia, Antônio e toda a família viraram alvo constante de ameaças após denunciar os Highlanders. Mais de uma vez, ouviram uma voz dizer ao telefone: “Se você não calar a boca, vamos cortar sua cabeça também”. Outras ligações anônimas colocavam músicas fúnebres, seguidas de risadas debochadas.
— Outro dia, meu filho chamou a polícia porque bateram no carro dele. Quando os PMs do 37 [batalhão] chegaram e viram no documento o nome da mãe dele, mudaram o tratamento. De vítima, virou culpado. Bateram nele, esculacharam, ameaçaram e ainda o multaram — relata Antônio.
Também houve a vez em que Vânia foi parada por uma viatura do 37º Batalhão ao subir a rua de casa com a filha Vitória, então com 4 anos. Na janela do carro, um policial comentou:
— Nossa, que menininha linda. Logo, logo, vai ficar órfã.
Vânia aguentou firme e seguiu andando, fazendo cara de que estava tudo bem. Não queria assustar a filha.
Nenhuma ameaça conseguiu fazer a família recuar. Tanto Maria como Vânia se tornaram vozes importantes na luta contra a violência policial, contando com outros parceiros de luta: as Mães de Maio, o investigador Ivan, responsável pelo inquérito que levou à prisão dos Highlanders, e o jornalista André Caramante, cofundador da Ponte e autor das primeiras reportagens sobre o caso Carlinhos.
Após tanta luta e perseguições, a recompensa veio em 30 de julho de 2010. Nesse dia, o Tribunal do Júri do Fórum Itapecerica da Serra condenou os quatro policiais a 18 anos e 8 meses de prisão.
No mesmo dia, nasceu um neto de Maria da Conceição, filho de Valquíria. Em homenagem ao tio, que naquele dia recebia Justiça, o bebê recebeu o nome de Carlos. Parecia que a história havia ganhado o final razoável.
Mas a atuação da Justiça brasileira acabou por destruir aquele sonho de final feliz. Em 18 de outubro de 2011, uma decisão da 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatada pelo desembargador Fábio Gouvêa, anulou o julgamento.
Leia também: O destino dos jovens negros desaparecidos após abordagens da polícia
O desembargador atendeu a um pedido do advogado dos policiais, Celso Vendramini, para quem o promotor Vitor Petri havia desrespeitado uma determinação do juiz ao exibir aos jurados uma camiseta com a foto de Carlinhos, onde se lia “deficiente mental é assassinado por PMs da Força Tática”.
Nessa altura, os policiais já haviam sido expulsos da corporação, mas saber que os acusados de matar seu filho continuavam a andar pelas ruas fez muito mal para Maria da Conceição. A sensação de impunidade ampliou a sensação de abismo em que ela vinha se afundando desde a morte do filho.
— Ela se entregou. Não se cuidava mais. Perdeu a vontade de viver — relata Antônio.
Numa carta dirigida à então presidente da República Dilma Rousseff, enviada em 2012, Maria narrou os efeitos que a morte de Carlinhos teve sobre ela:
Depois disso, passei por tratamento psicológico e tomo medicamento. Não consigo dormir. Fico a noite inteira acordada, só ouvindo os gritos e gemidos do meu filho. Deus, como meu filho sofreu. Foi espancado até a morte e decapitado. Arrancaram as mãos e ainda o retalharam.
Esses policiais mataram não apenas o Carlinhos, mas a mim também. Achando pouco que fizeram, ainda ameaçam a mim e à minha família.
E, como sempre, pediu justiça:
Senhora Dilma, peço a Deus todos os dias que me dê forças para suportar essa dor, esse sofrimento que para mim não tem fim. Sei que a senhora é mãe e deve entender o quanto é doloroso perder um filho, principalmente dessa maneira tão cruel e pelas mãos dessas pessoas que tinham a obrigação de protegê-lo.
Por favor, senhora Dilma e senhores políticos, me ajudem. É o pedido de uma mãe que está clamando por Justiça. Conto em primeiro lugar com Deus e, em segundo, com vocês.
Marido e filhos contam que Maria da Conceição se transformou em outra pessoa após 10 de outubro de 2008. A mulher ativa, que colocava forrós da banda Calipso no último volume do som enquanto ia alegremente de um lado para outro da casa, limpando ou fazendo comida, deixou de existir. No lugar dela, restou uma Maria que passava a maior parte do tempo apenas lembrando do filho perdido.
— Mataram minha mãe aos pouquinhos. Todo dia arrancavam um pedacinho dela. Ela não dormia, não comia direito. Era só pensando e fumando, pensando e fumando… Dizia que queria morrer para encontrar o Carlinhos — lembra Vânia.
Na virada do ano de 2014, os filhos se sentaram ao lado da mãe para ver a queima de fogos pela tevê. Bem diferente das festas e churrascos com que a família costumava comemorar as datas festivas até 2008.
— Nunca mais comemoramos Natal, Ano Novo nem aniversário depois da morte do meu irmão. Tudo virou dia normal, igual aos outros — explica Vânia.
É ela quem conta que, na hora de se despedir, a mãe lhe disse:
— Vou te dar um abraço, que esse é o último Ano Novo que estou passando com você.
— Não, mãe, nós temos uma coisa grande para fazer, que é ver os caras serem condenados — respondeu Vânia, brava.
— Eu não vou conseguir ver — disse Maria.
Três dias depois, passou mal e foi ao pronto-socorro. Veio o diagnóstico: câncer de útero. Uma semana depois, em 10 de janeiro de 2015, Maria da Conceição morreu no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Foi enterrada no Parque das Cerejeiras, ao lado de Carlinhos.
Leia também: ‘Sumiços forçados continuam’, diz irmã de desaparecido há 12 anos
No mesmo ano, a família sofreu outro golpe. Em 6 de novembro de 2015, um novo julgamento absolveu os quatro policiais acusados pela morte de Carlinhos. A presença de quatro testemunhas, que até então não haviam aparecido, dizendo que os réus estavam em outro local no momento da abordagem a Carlinhos, foi determinante para o novo resultado.
Na sua página do Facebook, o advogado Celso Vendramini, ele próprio um PM da reserva, comemorou o resultado com um “Glória a Deus”. Seus seguidores também festejaram. “Quem ganha com isso é a Sociedade de Bem!!!”, vibrou um deles.
O momento do veredito foi doloroso para a família. Em todos os sentidos. Quando o juiz Wellington Urbano Marinho leu a sentença que absolvia os réus, familiares dos policiais foram para cima de Vânia e seus irmãos com chutes e socos.
— Fui derrubada no chão e me machuquei tanto que, no dia seguinte, tive que procurar o hospital por causa das dores — conta Vânia, sentada em uma cadeira no quintal da casa do pai, numa conversa que teve com a reportagem em 2016.
É noite, mas Vânia permanece do lado de fora da casa ao longo de toda a entrevista. É como se a soleira da porta guardasse uma barreira invisível para ela.
— Não consigo mais entrar nessa casa depois que minha mãe morreu. Não suporto entrar e ver que ela não está mais lá dentro.
As tragédias geradas pela polícia encheram a vida de hiatos. É a porta que Vânia não atravessa. São as festas em família que ninguém mais comemora. É o evitar pensar no que ficou para trás, porque dói demais.
— Se for pensar muito, enlouqueço. O negócio é não parar para pensar — conta Antônio, de dentro da sala de casa, observando a filha do lado de fora.
Alheia à conversa, a filha de Vânia, Vitória, corre de um lado para o outro. É uma fofice de cinco anos, toda presilhas e sorrisos. Criada à moda antiga, a menina pede a benção sempre que encontra o avô, como todos da família. Mesmo a criança, contudo, não é alheia ao horror. Vitória já viu uma foto do corpo de Carlinhos, sem cabeça nem mãos, e perguntou o que era. A mãe respondeu com a verdade: “é o seu tio, e quem fez isso com ele foi a polícia”.
Leia também: Justiça se nega a indenizar Crimes de Maio porque MP levou 12 anos para mover ação
A menina cresce sabendo que vive num mundo onde policiais não são pessoas que nos protegem, mas monstros que matam e retalham o tio da gente.
É para mudar esse mundo que a família luta, seguindo firme a lição da canção que Carlinhos cantava numa língua que só a sua mãe compreendia: “Fé em Deus que ele é justo, ei, irmão nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor”.
— A gente quer Justiça. A gente vai continuar lutando. Não desistimos, não. E agora é por duas pessoas. É por Carlinhos e por minha mãe — diz Vânia, encerrando a entrevista.
Tomando Vitória pela mão, Vânia se levanta. Antes de tomar o rumo de casa, elas se despedem de Antonio.
— A bênção, pai.
— A bênção, vô.
— A bênção.
Após essa trajetória de tanta dor e tanta injustiça, a família de Carlinhos pode, enfim, receber uma boa notícia da Justiça brasileira, a mesma que tanto falha porque tanto tarda. Em abril de 2017, a família conseguiu uma vitória em uma ação por danos morais que moveu contra o Estado de São Paulo. O juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho condenou o governo paulista a indenizar os pais de Carlinhos e seus irmãos com um total de R$ 595 mil. Na sentença, o juiz observou que “servidores públicos, no exercício de suas atribuições legais e valendo-se de sua condição de policiais, subjugaram a vítima, ceifando-lhe a vida, em modo de proceder análogo ao utilizado por grupos de extermínio”. Em 2018, a decisão transitou em julgado (não cabe mais recurso). Depois disso, a dívida do Estado com a família entrou na fila de precatórios (ordens de pagamento de dívida judicial).
–
*Para marcar os 15 anos dos Crimes de Maio, a Ponte publica 15 perfis de mulheres que perderam familiares para a violência policial, originalmente publicados no livro “Mães em Luta”, organizado por André Caramante e editado por Ponte e Mães de Maio em 2016.
Mães em Luta
Debora Maria da Silva: ‘Ser Mãe de Maio me alimenta’
Francilene: ‘Desaparecimentos não estão nas estatísticas, apenas em nossos peitos’
Maria Aparecida e a bala (duas vezes) perdida
Waltrina Middleton: ‘O lamento das mães no Brasil e nos EUA é muito semelhante’
‘As mães que lutam contra o Estado representam tudo de bom que tem nesse mundo’
Zilda Maria de Paula: ‘Não sossego enquanto não houver justiça’