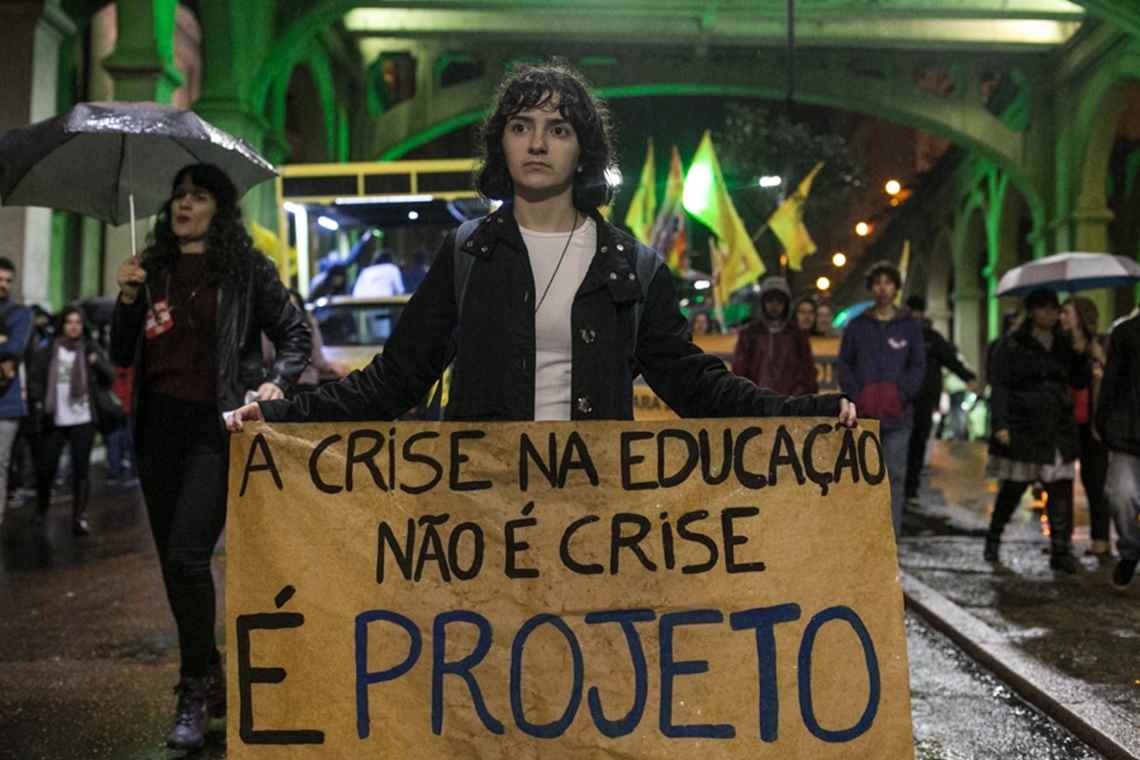Por Maria Fernanda Ziegler | Agência FAPESP
As desigualdades socioeconômicas e as vulnerabilidades existentes no país vieram à tona com a pandemia de COVID-19. A ponto de, na região amazônica, idade e outros fatores de risco conhecidos para a doença impactarem menos a mortalidade do que a falta de atendimento médico e de acesso a leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, faltou um planejamento específico para atender a populações historicamente marginalizadas e distantes dos sistemas de saúde das capitais, como é o caso dos indígenas e das comunidades ribeirinhas.
Essa é a conclusão de especialistas que participaram dos dois primeiros eventos da série “Saúde e Ambiente na Amazônia no contexto da COVID-19”, organizados pela FAPESP nos dias 5 e 12 de agosto.
A proposta de debate partiu de pesquisadores que integram o projeto “Depois das Hidrelétricas: Processos sociais e ambientais que ocorrem depois da construção de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio na Amazônia Brasileira“, apoiado pela FAPESP no âmbito do Programa São Paulo Excellence Chair (SPEC).
Segundo os pesquisadores, o exemplo mais marcante de como a COVID-19 atingiu de forma desproporcional a região Norte do país foi a crise humanitária ocorrida em janeiro deste ano na cidade de Manaus, quando o sistema de saúde da capital do Amazonas entrou em colapso e pacientes – não necessariamente infectados pelo novo coronavírus – morreram por falta de oxigênio.
Mas a tragédia não se limitou à capital amazonense. Estudos mostram que a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foi muito mais alta em toda a região Norte do que nos demais Estados brasileiros. Também lá foi registrado o maior percentual de mortes evitáveis por COVID-19, não só na faixa etária acima dos 60 anos, mas em todas as idades.
“Isso tudo se traduz em uma perda nunca observada no que se refere à expectativa de vida. Alguns Estados, como o Amazonas, voltaram a níveis de mortalidade que não existiam desde 2004, tamanho foi o retrocesso. Nossos estudos mostram que a região Norte foi desproporcionalmente muito mais afetada do que as outras”, afirmouMárcia Castro, epidemiologista e professora da Harvard University.
Castro coordenou um estudo, publicado na Nature Medicine, sobre a queda na expectativa de vida em virtude das mortes em excesso por COVID-19. No Amazonas, foram 4,42 anos a menos na expectativa de vida, que passou de 75,41 anos para 70,99. A segunda maior queda ocorreu em Rondônia: de 76,41 para 72,49 anos, ou seja, 3,92 a menos.
“Continuamos esquecendo o básico. Associa-se desenvolvimento econômico com infraestrutura, ou seja, com a construção de estradas e barragens. Isso é um erro que nunca foi questionado. Se perguntarmos para qualquer pessoa da região Norte – que mora perto dessas obras grandiosas – do que ela precisa, a resposta será: saúde e educação. Podem construir a infraestrutura que quiserem, fazer mil promessas de compensação, que nada desses itens avança”, disse Emilio Moran, coordenador do projeto SPEC-FAPESP.
Para Moran, há no país uma espécie de colonialismo interno. “Com essas obras grandiosas de infraestrutura, o Sudeste usa de uma exploração interna para abastecer os consumidores finais e a sua indústria. A hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, traz um impacto local enorme, mas os benefícios não ficam ali”, avaliou.
Segundo Castro, a COVID-19 provocou no Brasil e, em especial, na região Norte algo que tem sido chamado de sindemia – um contexto em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que os efeitos observados na população são muito maiores do que simplesmente somar os danos de cada doença individualmente. Há ainda componentes sociais, econômicos, políticos e ambientais que contribuem para piorar essa situação.
“Vale notar que, em alguns países, apesar dos contextos socioeconômicos e das vulnerabilidades, as decisões políticas mitigaram esse efeito de sinergia. Por aqui, as decisões políticas – ou a falta delas – acabaram exacerbando ainda mais essas vulnerabilidades”, afirmou Castro.
“Para entender o que está acontecendo com a COVID-19, precisamos olhar para trás, para os ciclos de exploração que a Amazônia passou, desde o ciclo da borracha e, muito emblemático, depois o lema na ditadura militar para o suposto desenvolvimento da Amazônia: chega de lenda, vamos faturar”, ressaltou Castro.
Mais recentemente, a pesquisadora observou um retrocesso muito grande de conquistas obtidas com a redemocratização do país. “Esse ciclo de exploração ignora constantemente a população local. Só visa ao lucro e não às melhorias de condições da população local, preservando a floresta. Isso acaba contribuindo para a persistência desses determinantes de saúde e cria uma população que se torna invisível, que só aparece quando há eleição”, disse.
Historicamente, além da falta de assistência e de serviços básicos, a região já passou por várias epidemias ou surtos de doenças como dengue, malária e febre amarela. Essas enfermidades estão diretamente ligadas a outro problema da região: o desmatamento. “Um estudo recente mostrou que, em média, para cada quilometro quadrado desmatado da floresta, temos 27 novos casos de malária”, informou Castro.
Os pesquisadores afirmaram ainda que ao analisar passado e presente na região amazônica fica impossível não se dar conta do alto potencial para a emergência de novas zoonoses. “Não conhecemos completamente o viroma [conjunto de vírus] que ocorre na Amazônia. A estimativa é que sabemos de apenas 0,025%. E essa destruição da floresta pode ser a ponte para que emerjam novos patógenos. Além das mudanças climáticas e das mudanças ecológicas, o fato é que o desmatamento pode fazer com que novos vírus apareçam”, disse Pedro Vasconcelos, pesquisador da Universidade Estadual do Pará (Uepa) e do Instituto Evandro Chagas, em Belém.
Os mais vulneráveis
A tragédia provocada pela COVID-19 na região Norte aumenta de tamanho quando o foco da análise se volta para os indígenas e as comunidades ribeirinhas. O inquérito sorológico EPICOVID-19 BR, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), mostrou que, desde o início da pandemia, indígenas tinham 80% mais risco de serem infectados pelo SARS-CoV-2 em comparação com brancos que moram na mesma cidade.
Fora das cidades o impacto da doença também foi brutal. Estudo publicado na revista Frontiers in Psychiatry por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que as taxas de incidência e mortalidade na população indígena foram, respectivamente, 136% e 110% mais altas que a média nacional.
Em termos de mortalidade, entre os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) mais críticos estavam Alto Rio Solimões, Cuiabá, Xavante, Vilhena e Kaiapó do Pará. A análise dos dados revelou ainda uma relação direta entre a incidência de casos de COVID-19 em indígenas e desmatamento, grilagem e mineração.
“Surtos da COVID-19 em territórios de recente contato também têm gerado preocupação. Recentemente, foram notificados 30 casos somente na Terra Indígena Kwatinemo, área de abrangência do DSEI Altamira”, alertou Luiz Penha, mestre em Saúde Pública, integrante do povo Tukano e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).
Em relação à vacinação, as taxas da população indígena – grupo prioritário no Programa Nacional de Imunizações – também estão abaixo da média da população em geral.
Dados de agosto do Ministério da Saúde apontam que alguns DSEIs estão abaixo de 50% da cobertura vacinal completa. Os distritos mais críticos são: Kaiapó-PA (32,4%), rio Tapajós-PA (38%), Alto Rio Juruá-AC (39,7%), Kaiapó-MT (42%) e Araguaia-MT (49,7%).
“São áreas que passam por diversos conflitos territoriais, seja por garimpo ou agricultura. Isso tudo somado às fake news e às dificuldades logísticas fazem com que os números não tenham evoluído como o desejado”, relatou Penha.
Érika Pellegrino, pesquisadora da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Altamira, contou que a desconfiança tem sido grande em relação ao governo. “Uma pessoa me perguntou: ‘esse governo faz tudo para nos matar, por que eles dariam as vacinas para a gente primeiro?’ É um argumento muito lógico e difícil de ser contraposto. Mas precisamos informar que as vacinas são confiáveis. Por isso, fizemos um grande trabalho de escuta da comunidade. Houve ainda problemas com organizações religiosas, que trouxeram muitos questionamentos para os indígenas sobre as vacinas. Os meios de comunicação ajudam muito na telemedicina, mas infelizmente também contribuem para a propagação de fake news”, disse.
Segundo os pesquisadores, já no começo da pandemia, havia a indicação de maior vulnerabilidade dos povos nativos à COVID-19, por questões de iniquidades. “Já se sabia que doenças respiratórias tinham uma rápida dispersão nas comunidades indígenas. Já se sabia que a orientação do isolamento social se adequa a uma lógica urbana e também se sabia da maior dificuldade de acesso dos indígenas aos sistemas de saúde de alta complexidade”, explicou Ana Lúcia Pontes, pesquisadora da Fiocruz no Rio de Janeiro.
Para Pontes, soma-se à crise da COVID-19 entre essas populações o estímulo à invasão dos territórios indígenas – o que coloca a saúde desses povos em risco.
“A resposta do governo frente à COVID-19 seguiu uma postura bastante negacionista, que teve como base minimizar um problema muito complexo como uma pandemia. Foi um posicionamento que impediu a estruturação de uma resposta adequada. No caso da população indígena, isso foi ainda pior por causa de vulnerabilidades pregressas, de uma postura anti-indígena, de um retrocesso da visão da política indigenista e da relação do Estado com os povos indígenas. Com isso, infelizmente, o impacto da COVID-19 nessas populações foi ainda maior”, afirmou Pontes.
De acordo com a pesquisadora, isso pode ser notado ao analisar, por exemplo, a distribuição dos equipamentos de proteção individual (EPIs). “A disponibilidade de EPIs na ponta foi insuficiente em relação à necessidade inicial. O mesmo pode ser visto na distribuição de testes, que acabou gerando um grande problema de subnotificação. Também pelo discurso de autoridades que estimularam tratamentos como a cloroquina, comprovadamente sem eficácia para a COVID-19”, disse.
Pontes ressaltou que o país vive e viveu uma mudança muito grande e radical no que diz respeito aos povos indígenas e aos marcos legais. Até a década de 1960, por conta das epidemias, da violência do processo colonizatório e da perspectiva integracionista, houve um processo de depopulação e grande pessimismo quanto ao futuro dos povos indígenas.
Isso se reverteu via mobilização, em nível internacional e nacional, que fortaleceu a luta pela autodeterminação dos povos indígenas e estabeleceu a obrigação dos Estados nacionais em protegê-los e respeitá-los. “No começo dos anos 1980, tem a formação da União das Nações Indígenas, que vai articular uma ocupação no Congresso Nacional durante a constituinte para defender o capítulo dos índios presente na Carta”, contou.
Vale ressaltar que a promulgação da Constituição, além de garantir aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e reconhecer a demarcação e usufruto exclusivo de seus territórios, também teve impacto na política de saúde. “Nessa conjuntura de criação de um sistema único de saúde, houve intensa articulação entre indigenistas e indígenas para criar o subsistema de atenção à saúde indígena em 1999, que respeita o reconhecimento da diversidade sociocultural dos povos indígenas, que também incide no processo saúde-doença e terapêutico”, explicou.
A série de seminários “Saúde e Ambiente na Amazônia no contexto da COVID-19” é uma iniciativa que reúne a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Pará (UFPA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Universidade Federal de Rondônia (Unir), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Michigan State University (MSU), dos Estados Unidos.
A íntegra do primeiro seminário está disponível em: www.youtube.com/watch?v=kd13uoLoUCY. O segundo evento pode ser conferido em: www.youtube.com/watch?v=RKqXys_V3RY&feature=youtu.be.
–
Foto principal (Agência Saúde): atendimento às famílias Yanomami em Roraima, em julho de 2020