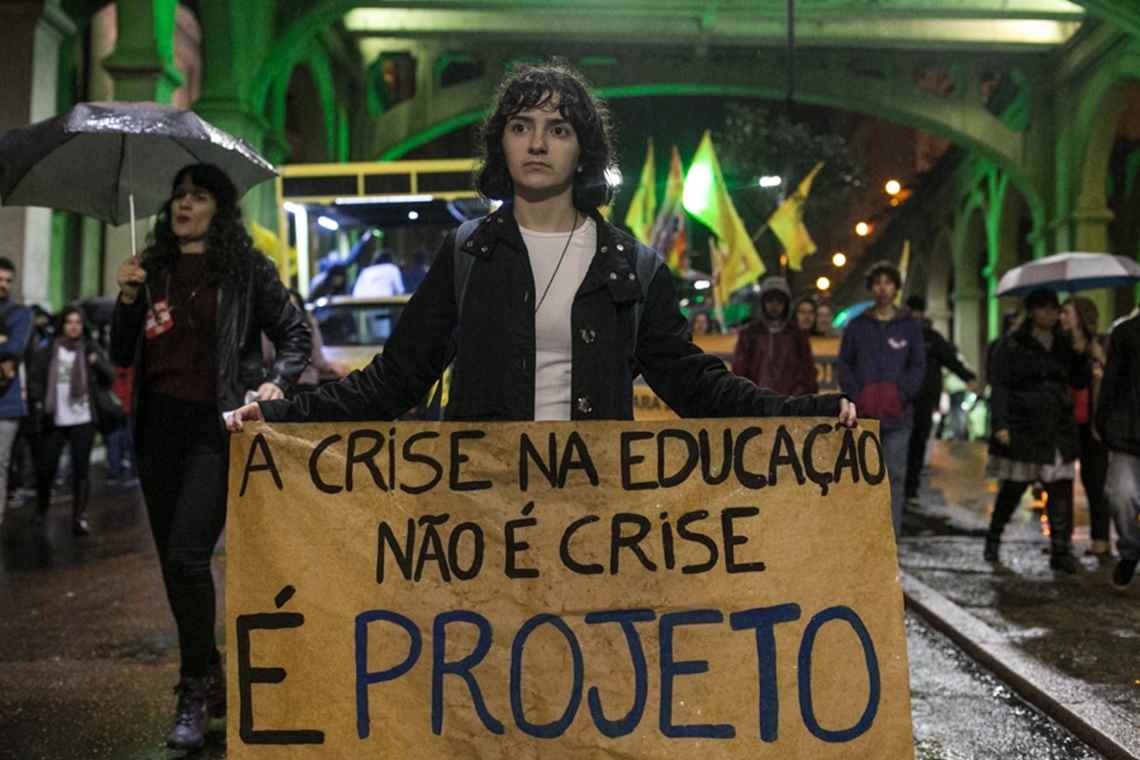Rodrigo Martin-Iglesias analisa a “nova desordem mundial” que reconfigura a América Latina
A invasão da Venezuela é um sintoma do pânico diante da dissolução do mundo unipolar sem uma hegemonia clara. Seus alicerces estão ruindo — o petrodólar, o monopólio da energia, a subserviência geopolítica — e Trump está optando por demonstrar sua força. Este não é o alvorecer de um novo século americano. A América Latina deixou de ser o “quintal” e se tornou o laboratório vivo.
Rodrigo Martin-Iglesias é designer, pesquisador e professor universitário. Seu trabalho situa-se na interseção entre design, estudos de futuros e geopolítica, com foco em disputas contemporâneas sobre poder, território, tecnologia e a produção de significado a partir de uma perspectiva latino-americana e do Cone Sul. Ele investiga como imaginários do futuro, sistemas técnicos e narrativas culturais operam como dispositivos geopolíticos, influenciando a configuração de soberanias, dependências e modelos de desenvolvimento. Dirige programas acadêmicos de pós-graduação entre a América Latina e a Europa e participa de redes internacionais de pesquisa voltadas para o desenvolvimento de alternativas à ordem global dominante a partir de abordagens críticas, decoloniais e transdisciplinares.
A entrevista é de Julián Varsavsky, publicada por Pagina|12.
Eis a entrevista.
O sequestro de Nicolás Maduro — que só se assemelha ao 11 de Setembro em Nova York em sua novidade e caráter espetacular — foi um episódio disruptivo que está remodelando a geopolítica global. Em que medida?
Não se tratou de uma invasão clássica, com divisões de tanques cruzando fronteiras. Foi uma intervenção de alto risco, executada com precisão letal: a captura de um presidente acusado de narcoterrorismo e, incidentalmente, uma tentativa de assegurar as maiores reservas de petróleo do planeta. Esse ato de violência brutal, justificado por uma Doutrina Monroe atualizada para a era da desinformação, não demonstrou a força de um império, mas sim seu pânico. Foi o sintoma revelador de uma potência que, sentindo os alicerces de sua hegemonia global ruírem sob seus pés — o petrodólar, o monopólio da energia, a obediência geopolítica — recorreu, pela última vez, a exibir sua força. O que se seguiu não foi o alvorecer de um novo século americano, mas o primeiro grande espasmo daquilo que aqui começamos a chamar, com uma mistura de medo e fascínio, de “Nova Desordem Mundial”.
A tentação da citação de Gramsci é irresistível: “O velho mundo está morrendo e o novo mundo luta para nascer: agora é a época dos monstros”.
Essa Nova Desordem não é um vácuo de poder, nem uma simples transição entre uma hegemonia em declínio e uma em ascensão. É algo mais complexo, caótico e potencialmente mais violento: a decomposição de um sistema operacional global que funcionou por oito décadas. É a lenta agonia de um gigante, cujos reflexos cada vez mais espasmódicos abalam o mundo inteiro. E em nenhum lugar esses tremores são sentidos com mais intensidade, nem suas consequências vistas com mais clareza, do que na América Latina. A região deixou de ser o “quintal” e se tornou o laboratório vivo, o epicentro onde as linhas de fratura geopolíticas de um planeta em transição colidem com força brutal.
O sequestro é a superfície, o produto de uma placa tectônica sempre difícil de discernir, ainda mais no caso de Trump, que parece cada vez mais livre de toda repressão interna, vomitando seus verdadeiros desejos diante do mundo. O que são esses conflitos subterrâneos?
Para entender a magnitude do terremoto, é preciso primeiro observar os alicerces em ruínas. A hegemonia americana na segunda metade do século XX repousava sobre um tripé de poder aparentemente inabalável. Hoje, as três pernas rangem em uníssono, e seu colapso relativo gera instabilidade sistêmica.
A primeira perna, a mais abstrata, porém vital, era financeira: o petrodólar. Não foi uma invenção espontânea do mercado, mas o resultado de um realinhamento geopolítico forjado na década de 1970, quando os Estados Unidos selaram uma aliança estratégica com a Arábia Saudita. Em troca de proteção militar e apoio político, o reino concordou em fixar o preço de seu petróleo em dólares e reciclar seus excedentes financeiros dentro do sistema americano. Com o tempo, o restante da OPEP adotou o mesmo esquema. Assim, em poucos anos, qualquer país que precisasse de energia para sustentar sua economia foi forçado a acumular dólares. Isso criou uma demanda artificial e constante pela moeda americana, permitindo que Washington financiasse déficits monumentais, projetasse poder a baixo custo e transformasse as sanções financeiras em uma arma de destruição em massa para economias inteiras, como as de Cuba, Irã ou a própria Venezuela.
Mas toda arma usada em excesso gera seu antídoto. A própria eficácia das sanções acelerou uma fuga silenciosa e massiva do sistema do dólar. Quando a China, a maior importadora de energia do mundo, oferece ao Brasil ou à Argentina pagamento por sua soja e minerais em yuan digital, ela abre uma rota alternativa que contorna a rodovia fortemente vigiada de Wall Street. Quando os bancos centrais das potências médias, de Singapura à Arábia Saudita, aumentam febrilmente suas reservas de ouro — o ativo por excelência fora do sistema —, eles enviam um sinal claro: a confiança no monopólio monetário não é mais absoluta. A transição energética, que visa precisamente reduzir a dependência global do petróleo, mina ainda mais a base material desse edifício financeiro. Se o mundo consumir menos petróleo bruto, precisará de menos dólares para comprá-lo. O ciclo virtuoso para Washington se transforma em um ciclo vicioso.
Qual era o segundo pilar do tripé?
Poder militar incontestável, o “guerreiro global”, cuja rede de 800 bases garantia rotas comerciais e dissuadia qualquer rival. Mas esse guerreiro está sobrecarregado e tecnologicamente defasado. Os custos de ser o policial do mundo tornaram-se insustentáveis para uma sociedade americana dividida e com infraestrutura decadente. Mais crucialmente, a própria natureza do poder militar mudou. A era dos porta-aviões, o símbolo máximo da projeção de poder do século XX, está sendo desafiada por mísseis hipersônicos e sistemas de negação de acesso/área (A2/AD), que transformam vastas áreas marítimas em armadilhas mortais. A China aperfeiçoou essa estratégia no Mar da China Meridional. A Rússia a aplicou brutalmente na Ucrânia. A intervenção na Venezuela, com todo o seu espetáculo, pode ser interpretada como um ato de impotência estratégica: a incapacidade de controlar a região com os mecanismos de influência econômica e política do passado, o que forçou os EUA a recorrer à opção mais primitiva e custosa.
Imagino que o terceiro pilar seria o setor econômico e energético.
Trata-se do controle sobre o recurso estratégico por excelência, que está passando pela transformação mais profunda. Durante um século, o poder foi medido em barris de petróleo. Hoje, é medido em toneladas de lítio, cobalto e elementos de terras raras. A ‘geopolítica do petróleo’, com suas guerras no Golfo e alianças com xeiques, está dando lugar à ‘geopolítica do lítio’. E aqui, os EUA se encontram em uma posição paradoxal e frágil: são uma superpotência energética graças ao fraturamento hidráulico, mas estrategicamente dependentes de outros minerais na nova corrida pela eletrificação autônoma. Quem domina a cadeia de valor não é quem extrai a rocha dos salares, mas quem a refina em pó ultrapuro e a utiliza para montar baterias de alto desempenho. E esse domínio é exercido de forma esmagadora pela China.
Enquanto Donald Trump se vangloria, ameaça e humilha — antes mesmo de negociar —, a astúcia chinesa se move prudentemente pelas mais sutis intersecções da geopolítica. Mas avança implacavelmente, minando seu adversário por todos os lados com uma lógica taoísta.
Pequim não se apresentou como um rival militar direto no Hemisfério Ocidental. Estabeleceu-se, de forma muito mais astuta, como a “nova OPEP da transição verde”. Controla mais de 80% do processamento global de elementos de terras raras, essenciais para turbinas eólicas e motores elétricos, e mais de 60% do refino de cobalto e lítio. Enquanto Washington ameaçava com sanções, Pequim ofereceu aos países latino-americanos empréstimos sem condições políticas, usinas de processamento e um mercado ávido. O império que outrora controlou o recurso do passado (o petróleo) agora luta, muitas vezes na defensiva, por um lugar na cadeia de suprimentos do futuro.
O colapso do tripé hegemônico não é apenas um problema de Washington.
Em um mundo hiperconectado, o impacto se espalha rapidamente. Uma crise bancária em um país abala mercados a milhares de quilômetros de distância. Um conflito regional faz os preços da energia dispararem. Uma sanção financeira deixa estados inteiros sem acesso às suas próprias reservas. As cadeias de suprimentos são interrompidas, a inflação cruza fronteiras e protestos irrompem em cidades que, aparentemente, não tinham nada a ver com o conflito original. A instabilidade emergente é diferente da do passado: é mais rápida, mais difusa, mais difícil de conter e assume formas novas e perigosas.
A primeira é a proliferação de “guerras quentes fragmentadas”. A competição entre grandes potências não se desenrola mais em um duelo bipolar ordenado como na Guerra Fria. Ela é terceirizada e descentralizada em uma infinidade de conflitos locais, alimentados por dinheiro, armas e grupos paramilitares. A Ucrânia é o exemplo mais claro, mas não o único. Na região do Sahel africano, a competição por recursos entre as antigas potências coloniais, Rússia e Turquia, alimenta insurgências e golpes de Estado. No Mar da China Meridional, os confrontos recorrentes entre as guardas costeiras chinesas e filipinas e a transformação de recifes em bases militares solidificaram um conflito naval de baixa intensidade. Não há batalhas abertas, mas sim uma guerra fria no mar, sempre à beira da escalada. A ordem unipolar, com todos os seus abusos, ainda impunha limites. Uma multipolaridade estável, baseada em equilíbrios e regras compartilhadas, poderia ter sido outra solução. Mas o que domina hoje é algo diferente: uma desordem que fomenta conflitos periféricos, guerras por procuração e escaladas calculadas para desgastar o adversário sem chegar a um confronto direto. O resultado é um planeta repleto de focos de tensão latente.
O termômetro de tudo isso é sempre a economia, o mercado global.
De fato, a segunda forma de instabilidade é financeira e econômica: a montanha-russa dos mercados especulativos. Os fluxos ágeis e implacáveis do capital global atuam como amplificadores das tensões geopolíticas. Um fundo de hedge em Manhattan, apostando que os preços da gasolina subirão devido à guerra na Ucrânia, pode acabar causando apagões e desindustrialização na Alemanha. Um fundo negociado em bolsa (ETF) que decide que o lítio é a “nova corrida do ouro” pode inundar um ecossistema frágil nos Andes com capital e inflar bolhas de projetos de mineração que, quando estouram, deixam apenas crateras sociais e ecológicas. Essa financeirização da geopolítica e da transição energética significa que as decisões de alguns gestores de fundos, obcecados com lucros trimestrais, podem determinar o destino de nações inteiras. Eles desvinculam o bem-estar econômico da produtividade real e o vinculam à psicologia volátil dos mercados.
Esses dois fenômenos transformam o mundo em um sistema de vasos interconectados onde a pressão em um determinado ponto desequilibra todos os outros. Uma sanção aqui pode causar fome ali. Um avanço tecnológico em um laboratório da Califórnia pode arruinar a economia de um estado produtor de petróleo no Golfo Pérsico. E no centro desse sistema interconectado, onde os fluxos de capital, recursos e violência se cruzam, está a América Latina.
A América Latina sempre foi bastante caótica e instável, mesmo sem guerras entre países. Os danos da desordem global podem ser ainda maiores aqui. Como resultado da ascensão da China, os EUA reviveram a Doutrina Monroe.
Se a Nova Desordem Mundial tivesse um campo de testes, seria entre o Rio Grande e a Terra do Fogo. A América Latina é onde todas as falhas tectônicas desta nova era — a transição energética, a competição entre sistemas, a crise do capital especulativo — convergem e produzem seus experimentos mais extremos e reveladores. O exemplo emblemático é a “armadilha do lítio”, ou o que alguns acadêmicos chamam de “dependência 2.0”. No chamado “Triângulo do Lítio”, que abrange o Salar de Uyuni na Bolívia, o Salar de Atacama no Chile e os salares da Puna na Argentina, uma batalha silenciosa está sendo travada, que encapsula os tempos de mudança. Ali, as comunidades indígenas e os governos locais estão no olho do furacão.
Por um lado, empresas chinesas, com vantagens tecnológicas e capital paciente, oferecem-se para construir não só a mina, mas também a planta de processamento, prometendo assim um salto na cadeia de valor. Por outro, chegam consórcios americanos e europeus, muitas vezes aliados a capital australiano ou canadense, com ofertas que prometem padrões ambientais mais rigorosos — exigidos por seus acionistas — e acesso a mercados premium. O governo argentino, ávido por dólares, pode inclinar-se para a oferta chinesa ou canadense. O governo chileno, tradicionalmente mais alinhado com o Ocidente, pode preferir a americana. O governo boliviano, com seu modelo estatista, poderia ter tentado seu próprio caminho. O resultado imediato não é o desenvolvimento, mas a fragmentação e uma nova versão da “maldição dos recursos”. As comunidades dos salares assistem a caminhões transportarem a “rocha branca” que, depois de milhares de quilômetros, alimentará baterias em Xangai ou Stuttgart, enquanto suas aldeias carecem de água potável ou estradas pavimentadas. A riqueza é extraída, mas não permanece. A geopolítica, em sua forma mais crua, torna-se um fator de divisão social e ecológica local.
O outro fator desestabilizador — e, ao mesmo tempo, um recurso econômico significativo — é o narcotráfico.
É por isso que digo que o segundo experimento é a “insegurança exportada” e o crime como ator geopolítico. Os cartéis de drogas no México e na Colômbia deixaram de ser meras organizações criminosas e se tornaram conglomerados transnacionais com poder militar, capacidade de corromper Estados e sofisticação financeira. Seu produto é consumido em massa no mercado americano, gerando um fluxo lavado de bilhões de dólares em capital ilegal. Mas sua utilidade vai ainda mais longe. Para potências extra-hemisféricas, esses grupos podem ser instrumentos baratos de desestabilização, difíceis de rastrear e capazes de negar qualquer vínculo direto. Será que o fluxo de fentanil que está devastando os Estados Unidos pode ser interrompido sem uma cooperação real com Pequim, onde os precursores químicos são produzidos? A resposta é não. O crime organizado deixa de ser um problema policial e se torna parte da rivalidade estratégica global. O México ou o Equador tornam-se cenários de conflitos indiretos, onde a luta contra as drogas coexiste com disputas de poder e influência que ultrapassam em muito os limites dos próprios Estados.
Os EUA estão tentando conduzir os governos latino-americanos à fragmentação por meio de acordos bilaterais de livre comércio apresentados como solução para o subdesenvolvimento, que, na realidade, geram desindustrialização.
Estamos sob o domínio de uma diplomacia do “cada um por si”. A unidade latino-americana, um projeto inerentemente frágil, está se desfazendo sob a pressão da Nova Desordem. Quando cada ministério das Relações Exteriores calcula que seu interesse nacional imediato reside na assinatura de um acordo de livre comércio com a China, um acordo de segurança com os EUA ou um pacote de investimentos em tecnologia verde com a UE, o projeto coletivo se dissolve. O Mercosul, outrora concebido como uma ambiciosa união aduaneira, agora opera de forma fragmentada. Seus membros negociam bilateralmente com atores como Bruxelas ou Pequim, enfraquecendo qualquer estratégia comum. Essa fragmentação é funcional para as grandes potências: uma América Latina dividida é mais suscetível à pressão externa e menos capaz de coordenar posições sobre questões-chave, como preços de commodities ou alívio conjunto da dívida. O antigo “quintal” não responde mais a um único centro de poder, mas também não age como um bloco: transita entre múltiplas influências, sem capacidade real de impor condições.
Parece que estamos entrando em uma era de grande incerteza, sem uma hegemonia clara — e é por isso que a fera interior de Trump está despertando —, enquanto o continente sul-americano cambaleia politicamente.
Em última análise, o que emerge é um cenário de realinhamento tático e profunda incerteza. A América Latina não opera mais sob a órbita exclusiva de uma hegemonia, mas a promessa de uma multipolaridade estável e benéfica está se desvanecendo diante de uma realidade fragmentada de competição. A região enfrenta um dilema estratégico: gerenciar a atração de capital e tecnologia para a transição energética sem reproduzir antigos modelos de dependência e navegar pelas rivalidades entre potências sem se enredar em seus conflitos indiretos. O futuro próximo não será decidido em uma única grande batalha, mas sim na soma de decisões nacionais — muitas vezes descoordenadas — referentes a contratos de lítio, alianças de segurança e acordos comerciais. O resultado será um mapa regional mais diversificado em suas lealdades, mas também mais volátil e desigual, onde a capacidade de cada Estado de negociar e reter valor será a verdadeira medida de sua soberania nesta Nova Desordem.
–
Rodrigo Martin-Iglesias (Foto: Reprodução Página/12)