Após sofrer perseguição de assistentes sociais e ter o aborto negado na Justiça, adolescente vítima de estupro precisou recorrer ao MP para acessar direito

Por Clarissa Levy, Agência Pública
Às escondidas, Gabriela* precisou viajar sete horas de sua cidade natal até a capital Belo Horizonte para ter acesso ao aborto legal. Grávida após um estupro, a adolescente de 14 anos teve o direito negado em uma sentença judicial embasada no suposto “direito do nascituro”. Três semanas após o caso da criança de 10 anos do Espírito Santo que, também grávida de seu estuprador, teve o aborto negado em seu estado, Gabriela viajava com medo. Temia que, se fosse descoberta antes de chegar ao hospital, grupos antiaborto tentariam impedi-la de realizar a interrupção da gravidez garantida por lei. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, semanas antes, a juíza que havia analisado seu caso, teria compartilhado em um grupo de WhatsApp a sentença que negava o direito ao aborto para a adolescente. Na pequena cidade de Gabriela, a notícia de que ela estava grávida tinha se espalhado e profissionais de assistência social do município haviam aparecido dezenas de vezes na porta de sua casa, pressionando para que a menina fizesse o pré-natal.
O pesadelo começou na noite em que a menina fugiu de casa. Após uma briga com a mãe, ela correu para uma área de mata perto de sua casa para ficar sozinha. Não ficou. Lá, o ex-namorado encontrou-a e submeteu-a a duas relações sexuais sem consentimento. “Por que você não mata meu desejo?”, disse o ex-namorado antes de derrubá-la no chão. O “não” que Gabriela disse não impediu que o jovem de 21 anos a violasse.
O estupro resultou em uma gravidez, descoberta pela adolescente e sua mãe dois meses após a violência sexual. “Uma gravidez que poderia ter sido evitada caso a equipe médica tivesse seguido o protocolo para vítimas de violência sexual”, aponta Sandra Barwinski, advogada que prestou assessoria no caso. No dia seguinte ao estupro, a menina juntou coragem para contar à mãe o que havia sofrido e, queixando-se de dores na região pélvica, foi levada ao hospital de sua pequena cidade, no norte de Minas Gerais.
Segundo a Norma Técnica do Ministério da Saúde que trata do atendimento em casos de violência sexual, as vítimas devem ser acolhidas na unidade de saúde, passar por exames e receber medicamentos para evitar gravidez, HIV e infecções sexualmente transmissíveis. Na seção “pontos importantes”, a norma orienta que é fundamental “respeitar a fala da vítima, auxiliando a expressar seus sentimentos, buscando a autoconfiança”.
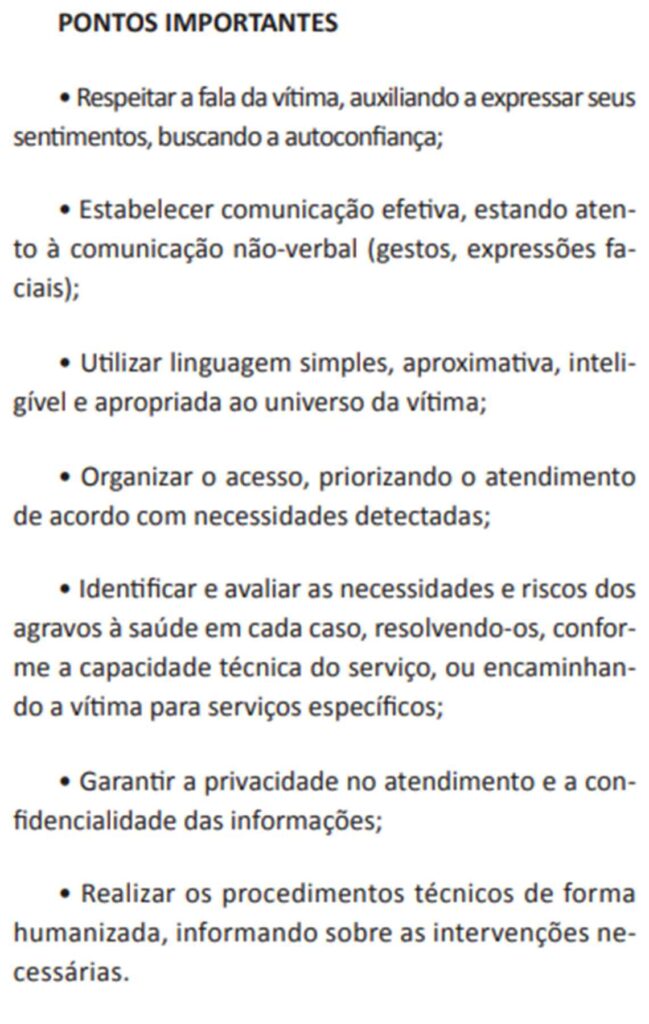
Na unidade de saúde, Gabriela relata ter sido desacreditada pelas médicas. No prontuário da consulta, ao qual à Agência Pública teve acesso, está registrado o relato dela sobre o estupro, seguido da observação: “a menina apresenta fala incoerente e face risonha”. Assustada e desconfortável, Gabriela, uma adolescente negra, filha de empregada doméstica, não ousou fazer mais perguntas às médicas. “Depois de avaliar meu corpo, elas pegaram e disseram que não tinha sido isso [estupro] porque no corpo não tinha marca nenhuma de violência”, lembra.
A menina não recebeu a contracepção de emergência — conhecida como pílula do dia seguinte — e nenhuma medicação para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Também não foi encaminhada a atendimento psicológico, como preconiza a Norma Técnica. “É uma desassistência chocante”, avalia Cristião Rosas, médico e vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Violência Sexual da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
“Não oferecer a contracepção de emergência e profilaxia para DSTs em um caso de emergência como esse é a mesma coisa que receber uma pessoa baleada, não prestar o atendimento e mandar o ferido para o Instituto Médico Legal para fazer somente o exame de corpo de delito”, disse à Pública.
Gabriela relata que, após o atendimento no hospital, registrou o Boletim de Ocorrência e não recebeu outras orientações. A menina conta que não foi informada de que poderia engravidar e de que, se engravidasse, teria direito a um aborto legal e gratuito.
“A formação médica é muito deficiente. A imensa maioria dos médicos não estudaram na faculdade as normas e orientações sobre a interrupção da gravidez, quem dirá atendimento à vítima de violência sexual”, lamenta Helena Paro, ginecologista que coordena o serviço de aborto legal do Hospital das Clínicas de Uberlândia (MG). A médica aponta que, além da falta de formação para os médicos, tem aumentado a pressão sobre os profissionais e serviços que fazem o aborto previsto em lei. “Tem crescido uma movimentação para deixar os profissionais com medo, com receio de insegurança jurídica”, diz.
Na análise de Helena, a pressão contra o aborto tem se intensificado nos últimos três anos, mas como parte de um movimento que vinha ganhando força há cerca de dez anos. Em 2013 ocorreu o último Fórum Interprofissional para Atendimento Integral à Mulher Vítima de Violência Sexual. “Desde então, os profissionais de saúde dos serviços não possuem um espaço que dê apoio à manutenção e abertura de serviços nas regiões mais descentralizadas do país”, aponta Helena em um artigo. Para a médica, a falta de formação e estímulos para ampliação de serviços faz com que somente uma pequena minoria de mulheres receba atendimento médico adequado. “Infelizmente, a desassistência é o padrão”, diz.
No pequeno município do norte de Minas Gerais, aonde as normas técnicas do Ministério da Saúde parecem não chegar, Gabriela saiu do hospital sem ter recebido o atendimento previsto para vítimas de violência sexual. “Depois eles chamaram a polícia e a viatura nos levou pra casa”, lembra.
Quando dois meses depois a adolescente descobriu que estava grávida, entrou em desespero. Sua mãe procurou uma advogada para saber o que poderia ser feito. “Nessa hora, percebi que elas não sabiam que Gabriela tinha o direito de interromper a gravidez causada pelo estupro”, conta a advogada* que atendeu a adolescente. Como acontece com muitas outras vítimas de violência sexual, Gabriela não tinha ideia de que o aborto em caso de estupro é um direito estabelecido em lei desde 1940.
No Brasil, a interrupção da gravidez é permitida em casos de violência sexual, risco de vida da mulher gestante ou no caso de o feto ser anencéfalo. O procedimento é considerado de baixa complexidade e, segundo portarias técnicas, hospitais preparados para cuidados ginecológicos teriam estrutura suficiente para oferecer o serviço. Porém, em todo o país somente 42 hospitais fazem o aborto legal — segundo dados do Mapa do Aborto Legal, atualizados em 2020.
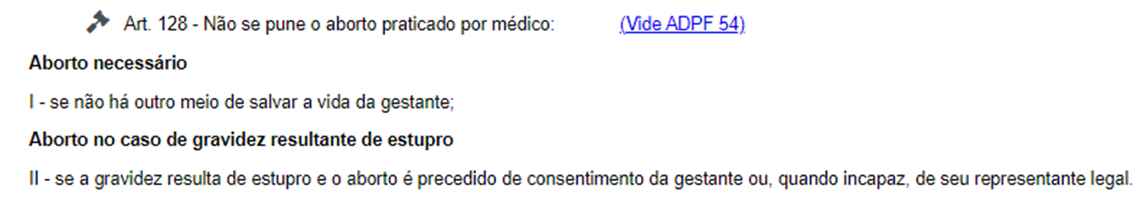
Pela normas, em casos como o de Gabriela, que vive em uma cidade sem o serviço, a paciente deveria ser redirecionada para um hospital que oferecesse o aborto legal. Para o procedimento, não é necessário Boletim de Ocorrência ou autorização judicial.
“Mas ela ficou com muito receio porque a cidade aqui é pequena, tem 30 mil habitantes. Como já tinha ido ao hospital e não tinham ajudado, nós fomos para a via judicial”, conta a advogada da menina.
No pedido encaminhado à juíza, a advogada conta ter anexado o Boletim de Ocorrência registrado por Gabriela, o Inquérito Policial que investigava o estupro e laudos psiquiátricos que apontavam a piora do quadro depressivo da adolescente após a violência sexual e a gravidez indesejada.
Pressão, ameaças e direitos violados
“O pedido [judicial] teve que ser formulado muito rápido porque a adolescente estava sofrendo ameaças indiretas dos órgãos municipais, principalmente de assistentes sociais que batiam na porta da casa dela dizendo ‘você tá grávida, vai fazer o pré-natal quando?’”, relata a advogada da adolescente. Segundo ela, não demorou para que a notícia de que a menina havia engravidado do estupro corresse pela cidade. Em pouco tempo, profissionais da assistência social começaram a visitar a casa da adolescente, pressionando para que ela seguisse com a gestação.
Em entrevista à Pública, Gabriela e a mãe relatam que perderam a conta de quantas vezes funcionários municipais foram até sua casa falar sobre a gravidez. Em uma semana específica, conta que assistentes sociais chegaram a aparecer no portão da casa três vezes por dia. “Eles falavam: ‘Já tem um pré-natal marcado pra você lá no posto, você tem que ir. Já tem um ultrassom marcado, você tem que ir’”, lembra. As pressões só cessaram quando a mãe da adolescente ameaçou tomar providências judiciais. Nenhum profissional da assistência social, saúde ou Conselho Tutelar teria informado mãe e filha do direito de interromper a gravidez, previsto na lei. “De órgão público, o único que ajudou foi a polícia, porque vieram perguntar se estávamos precisando de algo.”
Enquanto isso, a menina aguardava a decisão da juíza. O tempo passava, a barriga crescia e, com quase 12 semanas de gestação, Gabriela ainda esperava a resposta da Justiça. Na beira do terceiro mês de gravidez, a sentença veio.
A juíza Indirana Cabral Alves negou a realização do procedimento, apesar de o aborto em caso de estupro estar previsto em lei e de no processo o Ministério Público ter se manifestado favorável ao procedimento. “A gente tinha um certo medo, até pensava se pelo fato da juíza ser muito religiosa haveria alguma interferência da religião na decisão. Mas não esperava que, dada a lei e os documentos, ela negasse”, diz a advogada de Gabriela*.
A magistrada fundamentou a sentença no direito do nascituro, usando o direito à vida estabelecido na Constituição Federal para argumentar que o direito de o feto viver se sobrepunha ao direito de bem-estar psicológico da adolescente. “O art. 227, Constituição Federal, reitera o direito à vida que é garantido não somente a adolescentes ou adultos, mas também às crianças, dentre as quais, por evidência, se incluem os nascituros, cuja natureza jurídica é de pessoa”, escreveu.
Na fundamentação, Indirana Cabral referenciou ainda o Pacto de San José da Costa Rica, conhecido também como Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. O documento, de 1969, é comumente utilizado por juristas cristãos para embasar argumentações antiaborto, porque contém um artigo que menciona que o respeito à vida “deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção”. O trecho citado costuma aparecer acompanhado das defesas do direito do nascituro, mesmo que em 2012 a Corte da Convenção Americana de Direitos Humanos, órgão oficial do tratado, tenha julgado o artigo e concluído que o embrião não pode ser interpretado como uma pessoa.
A fundamentação no direito do nascituro, ecoada pela magistrada, também aparece frequentemente em artigos e publicações de juristas católicos ultraconservadores, como Ives Gandra Martins. Em livro publicado pela União de Juristas Católicos, alguns capítulos detalham a mesma linha de argumentação seguida pela juíza: o aborto mesmo em caso de estupro seria inaceitável por violar a Constituição e o direito do nascituro, estando também em desacordo com o Pacto de San José da Costa Rica.
Escondida, mesmo que dentro da lei
“O que nós vemos hoje é o fortalecimento de uma noção de direito familista, que prioriza os direitos de ‘uma família determinada’ na frente de outros direitos”, avalia Sandra Barwinski. A advogada integra o Comitê da América Latina e Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem), acompanhando casos de mulheres que tiveram dificuldades de acessar o direito ao aborto garantido em lei. “Nos deparamos com ilegalidades constantemente, está cada vez mais difícil fazer valer os direitos das mulheres, mesmo quando estão na lei”, disse em entrevista à Pública. Sandra começou a acompanhar o caso de Gabriela após a divulgação da sentença da juíza. “É uma sentença de direito canônico, inacreditável”, avalia.
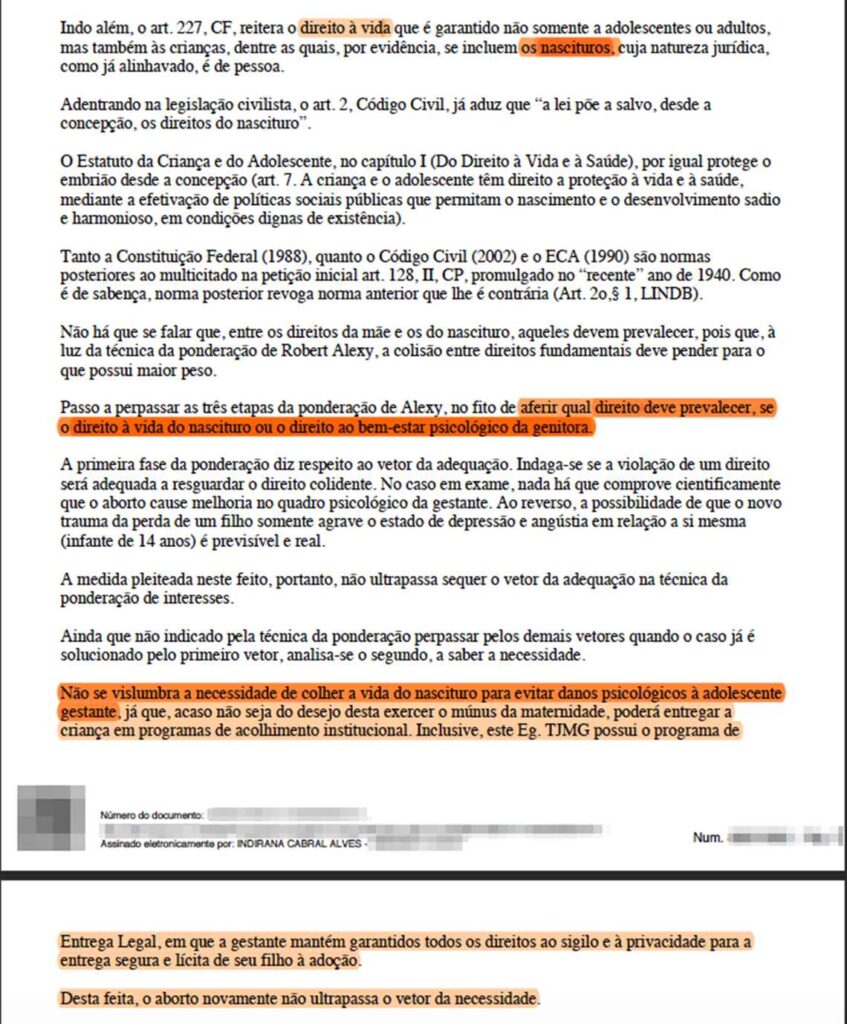
Após a decisão judicial, promotor* do Ministério Público da cidade de Gabriela, percebeu que seria necessário intervir para que a adolescente não tivesse seus direitos violados mais uma vez. Era setembro de 2020, três semanas após o caso da criança do Espírito Santo que precisou ser transferida para outro estado para ter o aborto garantido – após sofrer perseguição de militantes religiosos que tentavam impedir a realização do procedimento legal.
Preocupado com a violência e a exposição que vitimaram a criança capixaba, o promotor contatou a Promotoria de Saúde do Ministério Público em Belo Horizonte para pedir ajuda no encaminhamento de Gabriela. “Como o tempo era muito fundamental, eu entrei em contato com uma promotora em Belo Horizonte, especialista em saúde da mulher. Eu expliquei o caso e pedi orientação para ela”, contou Santos. Segundo ele, a promotora explicou que em Belo Horizonte três maternidades credenciadas pelo SUS estavam acostumadas a fazer o procedimento seguindo as normas do Ministério da Saúde. “Então ela me disse que a menina poderia ir pra lá, que seria atendida, eu falei com a advogada e ela providenciou a ida da adolescente”, conta.
Com dinheiro emprestado de uma vaquinha feita de última hora com familiares, a adolescente e a mãe viajaram às escondidas para a capital mineira. No meio da pandemia, tiveram que viajar de ônibus porque não podiam contar com o apoio da secretaria de Saúde do município, relatam. “Como o pessoal da cidade pressionava para que ela seguisse com a gestação, tivemos que organizar tudo escondido. Não era uma opção pedir ajuda nem pro transporte”, diz a advogada de Gabriela.
“O maior medo delas era que alguém do município descobrisse e fizesse algo para impedir”, conta. “Até chegarem em Belo Horizonte e serem recebidas no hospital, elas tinham medo que desse tudo errado. Diziam: ‘Eles vão ver que não estamos em casa, vão vir atrás”, lembra. Mas na capital mineira Gabriela e a mãe receberam acolhimento e o cuidado de saúde, como determinam as normas do Ministério da Saúde. A gravidez foi interrompida sem complicações e Gabriela retornou para a cidade natal dias depois.
“Mas não acabou aí, infelizmente. Ainda temos medo do que o pessoal da cidade pode fazer se descobrirem, medo de virem atrás de alguma forma”, disse Gabriela à Pública.Como o caso passou pelo pequeno Fórum da cidade e também pela assistência social, Gabriela teme que alguém exponha sua história ou cobre informações sobre o que ocorreu.
Se o Ministério Público não tivesse intervindo de forma extrajudicial, Gabriela ficaria à mercê da decisão judicial, que indicava que a menina seguisse com a gestação para doar o bebe à comarca. “Não se vislumbra a necessidade de colher a vida do nascituro para evitar danos psicológicos à adolescente gestante, já que, acaso não seja do desejo desta exercer o dever da maternidade, poderá entregar a criança em programas de acolhimento institucional”, havia afirmado a juíza na sentença.
Um direito questionado nos tribunais
A fundamentação da magistrada da pequena cidade mineira não é uma linha retórica isolada. E, segundo relatos ouvidos pela reportagem, no caso específico de Gabriela, a juíza expôs a argumentação que formulou para negar o direito à adolescente. Antes mesmo de anexar a decisão ao processo, Indirana teria compartilhado a sentença em um grupo de WhatsApp que reúne juízes de Minas Gerais.
A Pública conversou com um jurista que diz ter visto a publicação no grupo e ouviu outros dois juristas que acabaram recebendo a sentença vazada. Segundo as três fontes, na mensagem com o arquivo da sentença a magistrada teria escrito que a peça judicial estava à disposição para ser replicada, convidando os colegas a utilizar sua decisão para outros pedidos de autorização de aborto em caso de estupro. ainda de acordo com as fontes ouvidas, na mensagem compartilhada, o nome da adolescente e o número do processo estavam encobertos por uma tarja.
A reportagem tentou contato duas vezes com Indirana Alves. Por e-mail, ela respondeu que, segundo o Código de Ética da Magistratura, não poderia comentar processos nos quais atuou.

Quando tomou posse como juíza, Indirana enfeitou a sala de audiências, o local do tribunal do júri e seu gabinete de trabalho com imagens de figuras sacras da Igreja Católica. Em uma foto postada em sua rede social, em que aparece junto de sua equipe de trabalho do Fórum, a juíza escreveu: “Põe um motivo sobrenatural na sua atividade profissional de cada dia, e terás santificado o trabalho”. A frase é uma citação de Josemaría Escrivá, fundador do Opus Dei, um braço ultraconservador da Igreja Católica que prega que os fiéis santifiquem o trabalho cotidiano, transpondo valores cristãos para suas profissões regulares.
—
Imagem: Thomas White /Reuters


