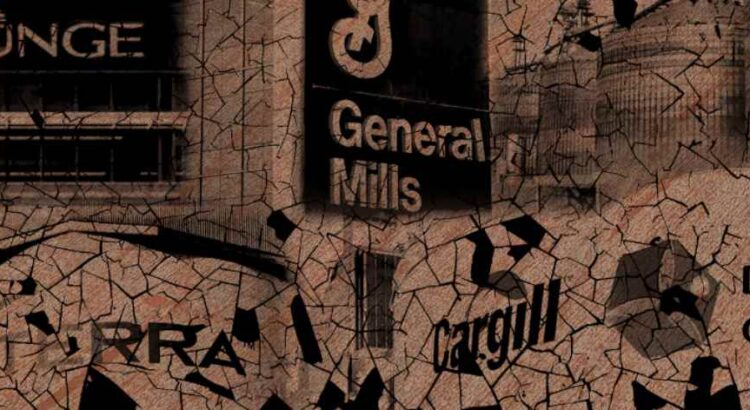Bunge, Cargill, Cofco, Amaggi, ADM do Brasil, Viterra e General Mills adquiriram soja e milho em área em que “lavagem de grãos” é admitida por produtores e servidores públicos
Por Tatiana Merlino, João Peres e Leonardo Fuhrmann, em O Joio e o Trigo
Um esquema ilegal de escoamento de grãos em Mato Grosso, admitido publicamente por fazendeiros e reconhecido por funcionários públicos, pode ter levado soja e milho plantados sem licenciamento em terras indígenas no estado – e dentro de áreas embargadas pelo Ibama – até armazéns de algumas das maiores empresas globais de commodities.
Em fevereiro deste ano, O Joio e O Trigo mostrou como os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles (hoje deputado federal pelo PL-SP), e da Agricultura, Tereza Cristina (atual senadora pelo PP-MS), participaram da festa de uma colheita ilegal, feita em uma área embargada pelo Ibama, da Terra Indígena Pareci. Além deles, o governador Mauro Mendes (União Brasil), também aliado de Jair Bolsonaro, esteve no encontro realizado em 2018.
Agora, em uma ima investigação conjunta com a Repórter Brasil revelamos relações comerciais entre sete gigantes do agronegócio (Bunge, Cargill, Cofco, Amaggi, ADM do Brasil, Viterra e General Mills) e fazendeiros autuados pelo Ibama por cultivarem irregularmente dentro das terras indígenas (TIs) Pareci, Utiariti e Rio Formoso, do povo Pareci. As negociações de soja e milho ocorreram em 2018 e 2019, período em que havia embargo sobre as áreas.
Contudo, as notas fiscais de venda dos grãos acessadas pela reportagem não identificam as fazendas dentro das TIs como a local da produção – isso inviabilizaria os negócios, já que é ilegal plantar e também comprar produção de terras embargadas. Os documentos indicam outras propriedades agrícolas como a origem dos grãos, mas todas são vizinhas (em alguns casos, coladas) à TI e pertencentes aos mesmos produtores multados pelo Ibama por levarem adiante lavouras irregulares.
É o caso de Eleonor Ogliari, que em maio de 2018 tomou uma multa de quase R$ 9 milhões por manter atividade agrícola na terra indígena Pareci e por impedir a regeneração da mata nativa em 1,6 mil hectares do território. A mesma área foi embargada pelo Ibama semanas depois, em junho de 2018, por estar semeada com milho transgênico – a legislação brasileira veda o cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas.
As coordenadas geográficas das autuações do Ibama incidem sobre uma lavoura dentro da TI que é limítrofe à Fazenda Chapada do Sol – propriedade registrada em nome de Eleonor Ogliari e separada do território dos Pareci apenas pela estrada que o margeia. Foi dessa propriedade que Bunge, Cargill e Cofco compraram milho e soja em 2018 e 2019.
Ao todo, a reportagem identificou cinco produtores multados pelo Ibama em 2018 por produzirem dentro das terras indígenas e que fizeram vendas durante a vigência dos embargos nas áreas para grandes tradings internacionais de grãos: Jacs Tadeu Ventura, José Carlos Acco, Eleonor Ogliari, Edson Fermino Bacchi e Rogério Acco.
O plantio dos fazendeiros em áreas indígenas embargadas coloca as vendas de soja e milho para as grandes traders do agro sob suspeita. Embora o registro das vendas dos lotes de soja e milho seja de áreas fora das terras indígenas, há a possibilidade de “lavagem” de grãos. Essa prática ocorre quando um produtor mistura soja produzida irregularmente – em unidades de conservação ou áreas griladas – com grãos produzidos em área regular. Ou seja, soja e milho plantados em área irregular podem ter sido incorporadas às exportações brasileiras, inclusive para mercados que se apresentam como ambientalmente responsáveis – como mostrou uma investigação de 2021 da Repórter Brasil, esse tipo de produção impulsiona o desmatamento.
Porém, no caso dos indígenas Pareci, a lavagem de grãos foi admitida publicamente por produtores e funcionários públicos que trabalham na região, em uma série de reportagens do programa Globo Rural, veiculada em março de 2019 – quando já havia embargo sobre a área.
O método é explicado por um fazendeiro que manteve as parcerias com os indígenas deste povo na época do desembargo das áreas, em setembro de 2018. Sérgio Stefanello disse, em entrevista ao Globo Rural divulgada em 17 de março de 2019, que os grãos produzidos na área saiam de lá em seu nome. Ou seja, eram declarados como sendo produzidos em outras de suas propriedades. A estratégia dificulta a diferenciação entre as produções de áreas diferentes. Os produtos não têm um mecanismo de rastreamento que torne possível identificar as movimentações deles.
Stefanello, que afirmava ter parceria com os indígenas desde setembro de 2018, disse que entrava com máquinas e insumos, enquanto os Pareci participavam do negócio com a terra e a mão-de-obra. A utilização da força de trabalho indígena, segundo ele, fazia com que o lucro da produção fosse dividido meio a meio, diferentemente de parcerias anteriores.
Em entrevista ao Joio, Stefanello confirmou que declarava como sua a produção feita em território tradicional: “Foi uma questão de urgência, a agricultura não espera. Era errado, mas justificável”, acredita.
Lavagem de soja
Em outra reportagem da série, um diálogo entre Carlos Márcio Vieira Barros, da Coordenação Regional da Funai em Cuiabá, e o repórter confirma o esquema para escoar a soja plantada sem licença. O servidor público admite que a manobra “não é legal”.
Ele disse que “o Ibama nunca autorizou esse plantio e nunca licenciou a área. A grande questão aqui, que agoniza não só nós da Funai, como os índios também, é essa questão de não sair o licenciamento, o que significa que os índios ficam anônimos nessa situação”.
O repórter afirmou:
– O agricultor vem e dá um jeito de vender essa safra como se fosse dele.
– Exatamente isso – Barros respondeu.
– O que é ilegal.
– O que não é legal.
Agora, em entrevista aos autores deste texto, Barros disse não saber avaliar se o esquema era ilegal, mas o descreveu com detalhes: “As tradings como Bunge, Cargill, ADM e Amaggi podem sofrer punições econômicas internacionais se comprarem soja dos índios, então elas não compram [diretamente]. Normalmente, os índios vendem para uma empresa local que dilui, mistura com a [soja] dos fazendeiros, digamos assim, e vai como dos fazendeiros. Os índios são invisíveis na soja”, explica. A íntegra das entrevistas pode ser lida aqui.
Consultadas pela reportagem, a maioria das empresas garante manter um “rígido controle” sobre a situação socioambiental de seus fornecedores. A General Mills, proprietária de marcas famosas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, informou que Edson Fermino Bacchi não é mais fornecedor nem “um parceiro de negócios fixo”, “tendo apenas fornecido pontualmente ingredientes para a companhia no passado”.
A Bunge não comentou sua relação com os produtores citados, mas assegurou que seu monitoramento “é capaz de identificar mudanças no uso da terra e no plantio de soja em cada uma das fazendas de onde origina” e que calcula se o volume de soja entregue está de acordo com a capacidade produtiva de uma propriedade, o que reduz o risco de triangulação. Já a Amaggi afirmou usar “imagens de satélites e informações geoespaciais” para fazer a rastreabilidade da origem da soja, mas tampouco comentou sobre os contratos investigados nesta reportagem. ADM e Viterra não responderam nossas tentativas de contato. Após a publicação da reportagem, a Abiove – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – informou que sua manifestação representava, também, o posicionamento das duas companhias. Cargill e Cofco haviam indicado, anteriormente, que a entidade seria sua porta-voz.
Cargill e Cofco indicaram a Abiove – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais – como sua porta voz. A entidade, por sua vez, garantiu que a soja produzida “em áreas embargadas por órgãos de fiscalização ambiental e sobrepostas com Terras Indígenas [entre outros] não entra na cadeia produtiva do setor”. Mas, embora faça referência “ao potencial risco de triangulação” dos casos apontados por esta reportagem, não se pronunciou especificamente a seu respeito, limitando-se a listar medidas que “são utilizadas rotineiramente” por suas associadas para reduzir o problema. A íntegra de todas as manifestações pode ser lida aqui.
Apesar das tecnologias aplicadas pelas empresas e esforços de associações setoriais para reduzir o risco de triangulação, ainda não há uma solução que efetivamente impeça esse procedimento, já que as técnicas de verificação levam em conta a origem declarada da soja pelo produtor.
Também procuramos os fazendeiros mencionados nesta reportagem para ouvir suas considerações. Os advogados de Eleonor Ogliari e José Carlos Acco informaram que seus clientes não comentariam os fatos apurados. Além disso, fizemos inúmeras tentativas de falar com Jacs Tadeu Ventura, Rogério Acco e Edson Fermino Bachi através de telefones e e-mails que constam em cadastros públicos e advogados ligados a eles, mas não foi possível localizá-los. O espaço permanece aberto para suas manifestações.
Duas décadas de produção
As etnias Manoki, Pareci e Nambikwara arrendam terra para plantio de grãos em larga escala desde pelo menos 2004, mas nunca conseguiram licenciar suas lavouras. Apesar disso, seguiram produzindo. Atualmente, cerca de 19 mil hectares são utilizados em cinco terras indígenas.
Um acordo com o governo federal chegou a ser assinado em 2013, prevendo a retirada dos fazendeiros não indígenas do território, para que os indígenas pudessem assumir a produção, mas a área de lavoura precisava ser reduzida. Só que, ao contrário do previsto pelo pacto, a área plantada subiu de 16,1 mil para 16,6 mil hectares – e os não indígenas não arredaram o pé de dentro das TIs.
Em meados de 2018, no governo Michel Temer (MDB), o Ibama multou produtores rurais e associações indígenas por desmatamento, produção de grãos sem licenciamento ambiental e plantio de transgênicos. A lista traz nomes que coincidem com os de signatários do pacto feito em 2013.
Em 2019, com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, o presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, decidiu desembargar as áreas de monocultura dentro das terras indígenas. Mais do que isso, ele decidiu pelo cancelamento de todas as multas aplicadas por irregularidades cometidas no território. Sua canetada mudou os rumos dos processos administrativos e tirou a responsabilidade dos apontados como infratores de pagar quase R$ 140 milhões em multas, cerca de 80% do valor aplicado aos fazendeiros.
Para isto, fez a avocação (quando um funcionário de um cargo superior assume o trabalho de um subordinado) dos processos e tomou a decisão. Apesar de ser um direito do presidente tomar as decisões para si, a medida era vista internamente como algo incomum, e se tornou praxe na gestão de Bim, segundo funcionários de carreira do instituto, sempre com o objetivo de proteger infratores. Ele esteve envolvido em irregularidades e chegou a ser afastado do cargo durante investigações da PF que apuraram supostas ações do Ibama para favorecer envolvidos na exportação de madeiras nobres extraídas ilegalmente da floresta.
Sob a condição de anonimato, servidores do Ibama falaram que a medida foi vista como uma “canetada” para acomodar os interesses do então presidente Jair Bolsonaro, que sempre apresentou os Pareci como exemplo de sua política de “integração” dos povos indígenas. Desde o início do governo, a área foi alvo de pressão dos ruralistas.
Em 2019, o Ministério Público Federal (MPF) capitaneou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com associações indígenas Funai e Ibama, abrindo espaço para a legalização da produção agrícola nas terras indígenas Rio Formoso, Pareci, Utiariti, Tirecatinga e Irantxe, em Mato Grosso. O momento marcou a obrigação de os fazendeiros não indígenas se retirarem da área, e impôs ainda a obrigatoriedade de licenciamento ambiental pelo Ibama – que segue pendente. Com a formalização do TAC com o MPF, a administração das parcerias passou a ser responsabilidade das cooperativas indígenas, criadas com esta finalidade.
Por meio da Lei de Acesso à Informação, em dezembro passado, o Joio solicitou ao Ibama informações sobre quais foram as ações fiscalizatórias para o monitoramento da área que foi embargada e sobre o destino da soja produzida neste período. A resposta foi: “Não consta na base de dados a realização de novas ações fiscalizatórias nas referidas áreas após o desembargo.” Questionamos o mesmo à assessoria de imprensa, mas não houve retorno.
Empresas fazem ponte
Sentado em uma poltrona na sede da Fazenda Bacaval, na terra indígena Utiariti, em Campo Novo dos Parecis, Ronaldo Zokezomaiake conversa com a reportagem do Joio. Ele é um dos líderes do povo Haliti-Pareci e ex-presidente da Copihanama, criada em 2018 e responsável pelo plantio de soja dentro dos territórios. Ele conta que os produtores indígenas aguardam o licenciamento ambiental do Ibama para poderem comercializar a soja produzida na TI.
“Por enquanto, nós ainda estamos usando algumas empresas para fazer essa ponte para nós. O que nós produzimos aqui, entregamos para as empresas que nos financiam e daí elas dão continuidade, mandam para fora, para exportação. Agora, quando tivermos esse licenciamento, nós mesmos podemos fazer diretamente essa comercialização”, explicou.
A explicação de Zokezomaiake sobre o destino da soja produzida dentro das terras dos indígenas é diferente da dada por Arnaldo Zunizakae, outro líder dos indígenas sojicultores que entrevistamos durante a viagem às terras indígenas onde vivem os Pareci, Manoki e Nambikwara. “A gente ainda não pode comercializar esse produto de maneira legal, digamos assim. Ainda existe uma restrição muito grande. Por exemplo, não temos como exportar nossa produção e isso desvaloriza o nosso produto. Nossa soja é comercializada aqui. Essas empresas não podem exportar [a nossa] soja, se embarcar em um navio com origem daqui, a Bunge vai ter problema, a Amaggi vai ter problema, a Cargill vai ter problema. Eles sabem que eles vão ser punidos severamente por estar comprando soja de terra indígena. É mais uma política trabalhada para impedir que o indígena pudesse desenvolver agricultura nas suas terras. Infelizmente”, disse.
Essa versão contradiz uma afirmação pública do próprio Arnaldo. No ano anterior, durante uma live com Jair Bolsonaro e com o então presidente da Funai, o delegado Marcelo Xavier, Arnaldo afirmou que “nós produzimos grande quantidade de soja, de milho, feijão, porém essa nossa produção tem que ser comercializada de maneira clandestina”. Ele ainda se queixou da diferenciação do plantio em larga escala dentro de unidades de conservação: “Eu tenho que fazer uma agricultura primitiva porque eu não posso usar as melhores genéticas que hoje o mercado dispõe.”
Para conhecer os projetos de produção de soja nas terras indígenas das etnias Pareci, Manoki e Nambikwara, em agosto de 2022, a equipe do Joio dirigiu mais de 2 mil quilômetros e circulou por cinco terras indígenas das três etnias, no Mato Grosso, onde entrevistou cerca de 20 pessoas.
A investigação resulta na série de reportagens “O feroz e o encantado”. Nos textos, contamos o histórico da produção de monocultura, as tentativas de licenciamento da área, os aspectos positivos e negativos da lavoura, a relação com Ibama, Funai e MPF. Essa série integra o projeto “Entre a soja e o Cerrado”, que investiga o avanço do agronegócio em terras indígenas.
Atualização: Esta reportagem foi atualizada em 29/05/2023, às 14:50, para incluir a informação, enviada pela Abiove após a publicação, de que sua manifestação representava, também, o posicionamento de ADM e Viterra.