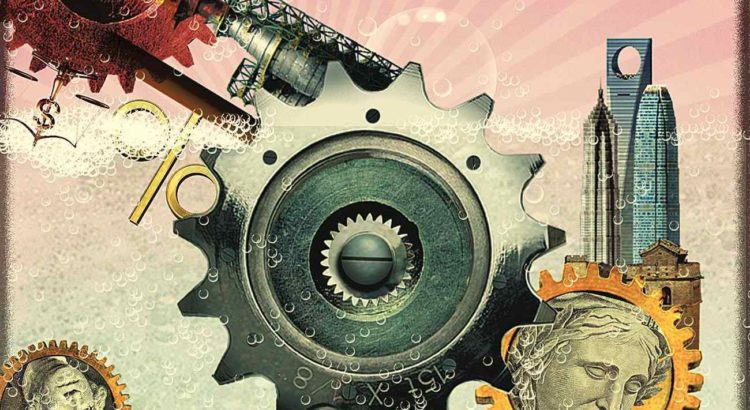“O fascismo, diríamos, é um humanismo. Para o fascismo, trata-se de salvar a ‘raça’ que será a última propriamente ‘humana’ que sobreviveu à invasão parasitária dos ‘outros’ (muçulmanos, judeus, índios, negros etc.)”, afirma o filósofo chileno
Por Márcia Junges | Tradução: Moisés Sbardelotto – IHU On-Line
“Uma mutação radical da soberania moderna em uma definitiva inscrição biopolítica.” Assim o filósofo chileno Rodrigo Karmy caracterizaria o fascismo em nosso tempo em entrevista concedida à IHU On-Line, por email.
Um regime que não reconhece a lei, porém sua exceção permanente, “não conhece a técnica, senão como imperialismo; não sabe do outro mais do que como inimigo; não conhece o exército, senão como aparato policial; converte o silêncio em seu aliado mais forte, combinado com uma estetização completa da vida social; reduz a noção de progresso à extensão de suas rodovias e vislumbra o passado apenas como um mito que, tendo sido esquecido por muito tempo, é reeditado em e como presente”.
Contudo, Karmy adverte que é preciso problematizar não apenas o fascismo, mas também odiscurso humanista: “O fascismo, diríamos, é um humanismo. Para o fascismo, trata-se de salvar a ‘raça’ que será a última propriamente ‘humana’ que sobreviveu à invasão parasitária dos ‘outros’ (muçulmanos, judeus, índios, negros etc.)”. E acrescenta: “Somente como ‘humanismo’ o fascismo pode identificar o ‘outro’ como não ‘humano’ e fazer do fascista um ‘humano’ nesse mesmo ato de exclusão — de sacrifício”.
De acordo com Karmy, o fascismo vive em nossos corpos, “porque o ‘revés’ entre soberania e biopoder se aprofundou na cena capitalista contemporânea. Sob essa luz, o neoliberalismo seria o nome do fascismo feito dispositivo”, define. Sua consumação na sociedade contemporânea é um desdobramento da anarquia do capital como uma verdadeira e já explícita guerra civil global.
Karmy tece, ainda, uma profunda crítica ao neoliberalismo e sua disseminação até as camadas mais profundas da sociedade: “o neoliberalismo é uma doutrina aristocrática, pois privilegia os ‘melhores’. Um aristocratismo econômico, e não político, como se pode depreender a partir da tradição grega. Essa cena mostra que, no Chile, a vida está inteiramente financeirizada”.
O fascismo, observa Karmy, é uma espécie de “captura total da vida e a privação do seu mundo. A captura da vida a priva do mundo e faz do mundo um ‘meio ambiente’. Ou, ao menos, a tentativa de captura total. Mas, como isso nunca é possível, então, o fascismo deve inventar inimigos: o ‘outro’ aparece como o delinquente que, sendo quase sempre de classe baixa, imigrante, pobre e marginal, ameaça o caráter sagrado da propriedade. Produz-se, assim, não mais o medo da era clássica (Hobbes), mas o terror como uma paixão cotidiana que, por sua vez, implemente a exceção cotidiana”. E não se trata de salvar a “democracia”, mas sim desarticular as formas “religiosas” do capitalismo. E já não é mais preciso tanques para impor um golpe de Estado: “Basta o jogo que oferece a própria ‘democracia’ e, no caso do Brasil, basta transformar os meios de comunicação em um verdadeiro partido político ‘reacionário’, como disseSafatle”.
Rodrigo Karmy Bolton é doutor em Filosofia pela Universidade do Chile, onde leciona e é pesquisador do Centro de Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia e Humanidades. Suas linhas de trabalho incluem a angelologia e governamentalidade no cristianismo e no Islã, seguindo os trabalhos de Michel Foucault e Giorgio Agamben, entre outros. É autor de Políticas de la interrupción. Ensayos sobre Giorgio Agamben (Santiago de Chile: Editorial Escaparate, 2011), compilação de textos do filósofo italiano. Rodrigo esteve no Instituto Humanitas Unisinos – IHUem 23-10-2013, quando proferiu a conferência A potência do pensamento: Giorgio Agamben leitor de Averroes, no evento O pensamento de Giorgio Agamben: técnicas biopolíticas de governo, soberania e exceção.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Quais são as expressões fundamentais do fascismo hoje, no mundo, e no Chile, em específico?
Rodrigo Karmy – A pergunta é difícil – e acho que só posso dar alguns indícios – porque pressupõe que a noção de fascismo está claramente definida. Parece-me que tal pressuposição é complicada e, embora certamente nos facilitaria muitas coisas, considero que uma das tarefas políticas do nosso tempo deve ser interrogar as categorias que habitualmente usamos, entre elas, a de “fascismo”, perguntando-nos pelos seus possíveis desempenhos analíticos. Eu tendo a pensar que, em vez disso, com esse termo, ocorreu uma sobrecodificação, na medida em que ele operou como um verdadeiro fantasma, tanto para a tradição liberal quanto para a marxista, desde a segunda metade do século XX, na verdade.
De início, eu diria que se deveria evitar o binômio “humanista” que estabelece uma diferença constitutiva entre “fascismo” e “democracia”. O termo “fascismo” pode ser trocado por “ditadura”, “autoritarismo”, “totalitarismo”, todos termos medianamente afins, que abasteceram o “humanismo” liberal desde a segunda metade do século XX e das primeiras décadas do século XXI. Desativar o binômio envolve deixar de lado o pressuposto segundo o qual o “humanismo” moderno se oporia, por si mesmo, ao “fascismo”. A própria escola de Frankfurt, começando com as análises de Adorno e Horkheimer , advertiu sobre a cumplicidade entre o fascismo e a democracia, a ponto de analisar as sociedades do “capitalismo industrial avançado” sob o prisma do fascismo.
De sua parte, Michel Foucault tem outro modelo: o fascismo não seria o paradigma ótimo para compreender as sociedades liberais contemporâneas, mas sim aquele que, desde 1974, ele denominou de “biopoder” e que, desde 1978, chamou de “governamentalidade”. Para os frankfurtianos, o fascismo é a regra da Modernidade; para Foucault, é a exceção; mas, em ambos, a sua origem radica-se na própria Modernidade “humanista” que o fascismo supostamente rechaça.
O fascismo como “dispositivo”
Pois bem, em sua especificidade, parece-me, o fascismo propôs ao pensamento um problema que a clássica teoria da soberania não tinha no seu horizonte. Nesse sentido, uma das perguntas que o fascismo propõe ao pensamento não é mais: por que eu devo obedecer? (o problema se inscreve no registro da lei), e sim: por que eu quero obedecer? (o problema se inscreve no registro da vontade). A experiência histórica do fascismo — em suas diversas modalidades, italiana, alemã, mas também, não nos esqueçamos, japonesa — mudou a pergunta a partir do registro da moderna teoria da soberania jurídica e passou a propô-la a partir de um registro essencialmente biopolítico.
Em outros termos, não se trata de saber como é que um homem obedece à lei, mas sim como é que um homem se torna fascista. Nesse sentido, se tivéssemos que exigir o seu desempenho analítico, eu me inclinaria a situar o fascismo como um lugar de mutação radical da soberania moderna em uma definitiva inscrição biopolítica. Só nesse sentido podemos tomar o fascismo não como uma categoria “moral”, mas como um conceito intempestivo que seja capaz de exercer um efeito de alavanca em relação ao nosso presente.
Em princípio, poderíamos distinguir um fascismo como “regime”, situado historicamente em um determinado período, e um fascismo como “dispositivo”, uma lógica do poder que se reproduz em sociedades não necessariamente consideradas como “fascistas” no primeiro sentido atribuído (devo essa segunda noção à professora e amiga Luna Follegati).
Mas essa distinção não pode ser suficiente. Mesmo se optarmos por usar o termo “fascismo” como “racionalidade”, é necessário circunscrevê-lo ao horizonte mais geral daquilo que Michel Foucault identificou como o “revés”, característico do poder moderno: a soberania penetrada de biopoder e o biopoder articulado como desdobramento de soberania.
Sociedades biopolíticas
Assim, o termo “fascismo” não pode ser apenas uma categoria “moral” que condene um discurso ou prática como aquilo que se opõe inteiramente àquilo que habitualmente entendemos como “democracia”, mas sim como uma categoria analítica que possa ser capaz de mostrar o “revés” entre soberania e biopoder. Sob essa luz, eu me pergunto se o fascismo considerado como “regime” não constituiu, talvez, o momento de mutação radical e definitivo da soberania moderna clássica rumo à sua definitiva inscrição biopolítica contemporânea. Em outra chave, diríamos: o fascismo recodificou o padrão de acumulação do capitalismo moderno, fazendo com que a sua lógica desenvolvimentista implodisse em um novo padrão de acumulação flexível.
Mas isso nos propõe outra pergunta que deveríamos esclarecer: não foram as técnicas de poder implementadas pelas experiências coloniais entre os séculos XVIII e XIX que, não muitos anos mais tarde, apareceriam na experiência do regime nazista e do fascismo italiano e que acabariam transformando as sociedades europeias em sociedades biopolíticas? Não foi o fascismo o catalisador último dessa transformação, o monstro que, excedendo tanto o nomos estatal-nacional clássico levou suas formas à sua implosão, reinscrevendo-o no novo nomos de corte econômico-financeiro?
Com efeito, seguindo essa hipótese, diríamos que o “regime” fascista já não conhece a lei, mas sim a sua exceção permanente; não conhece a técnica, senão como imperialismo; não sabe do outro mais do que como inimigo; não conhece o exército, senão como aparato policial; converte o silêncio em seu aliado mais forte, combinado com uma estetização completa da vida social; reduz a noção de progresso à extensão de suas rodovias e vislumbra o passado apenas como um mito que, tendo sido esquecido por muito tempo, é reeditado em e como presente.
O fascismo não tem reis, e sim “líderes” (führer ou duce) que não só exterminam a sua oposição, mas também pretendem ser miseravelmente amados pelos seus povos. Os “líderes” querem ser amados, e, em efeito, os povos os amaram por algum tempo, na medida em que o problema do “líder” fascista não foi simplesmente reprimir, mas também fazer as massas participarem na reedição do mito histórico. Mito que marca o lugar do gozo soberano, o punctum da violência sacrificial em que se baseia toda a sua lógica.
O fascismo como um “humanismo”
Mas, se é assim, seria preciso dizer algo chave que compromete não só o fascismo, mas também o seu crítico mais intrépido: o discurso humanista. O fascismo, diríamos, é um humanismo. Para o fascismo, trata-se de salvar a “raça” que será a última propriamente “humana” que sobreviveu à invasão parasitária dos “outros” (muçulmanos, judeus, índios, negros etc.). Somente como “humanismo” o fascismo pode identificar o “outro” como não “humano” e fazer do fascista um “humano” nesse mesmo ato de exclusão — de sacrifício. Por isso, a afirmação de Walter Benjamin: “A chance deste consiste, e não em última instância, em que seus adversários o enfrentam em nome do progresso como norma histórica”. Ao se opor à sua catástrofe a partir da noção de consciência, razão, sujeito ou pessoa como “norma histórica”, o argumento “humanista” o abastece, em vez de destruí-lo, o humanismo o alimenta sem saber. Não haverá uma crítica decisiva ao fascismo se não nos voltarmos à destruição do humanismo do qual ele se nutre.
A categoria de fascismo deve ser problematizada se quisermos articular uma crítica radical acerca do nosso presente. Devemos decompô-lo, analisá-lo, entender as formas do seu funcionamento, deixando de lado o historicismo liberal que insiste em que, com a Segunda Guerra Mundial, o fascismo foi derrotado de uma vez por todas. O fascismo vive em nós marcando os nossos corpos, porque o “revés” entre soberania e biopoder se aprofundou na cena capitalista contemporânea.
Sob essa luz, o neoliberalismo seria o nome do fascismo feito dispositivo. Como tal, encontrou a sua consumação na sociedade contemporânea. Hoje, vivemos no fascismo consumado, ou seja, naquilo que já não é “fascismo”, mas sim desdobramento da anarquia do capital como uma verdadeira e já explícita guerra civil global. Guerra que pode ser expressa no fato de que o outrora amor a um “líder” implementado pelo fascismo histórico se desloca para o amor direto ao capital, tal como Benjamin o projetou nesse fragmentário texto intitulado “O capitalismo como religião”.
Nessa cena, podemos contemplar o processo de subjetividade das relações trabalhistas: não se trata somente de que os trabalhadores trabalhem, mas também que amem o seu trabalho e que, tal como ocorria com o “regime” fascista, façam do amor parte do dispositivo de acumulação capitalista (aquilo que o coaching atual chama de “felicidade”). Por isso, não basta a noção de “fascismo” entendido como regime, mas sim como dispositivo. Como tal, a facticidade fascista opera no seio da democracia, inclusive como democracia. Por isso, uma interrogação radical acerca do fascismo necessariamente deve nos levar a uma interrogação radical acerca da democracia.
IHU On-Line – Quais são as marcas fundamentais da ditadura chilena num comportamento fascista e de recrudescimento do ódio atualmente?
Rodrigo Karmy – O golpe de Estado de 1973, promovido e dirigido por Nixon , deu origem a uma dessas ditaduras modernas que Carl Schmitt chamou de “soberanas”. A ditadura chilena foi soberana porque fundou uma nova ordem jurídico-política. Uma ordem que, para se formar, investiu a Junta Militar do “poder constituinte”, legitimando e legalizando, assim, a ditadura em uma solução de continuidade para com a “longa tradição democrática” que, supostamente, a precedia, enquanto “restaurava” essa mesma tradição, depois de que, de acordo com o que propõe o raciocínio dos golpistas, o socialismo da Unidade Popular não pôde conduzir o processo e acabou destruindo a Constituição de 1925.
Mas, na medida em que a ditadura chilena foi “soberana”, ela teve uma articulação cívico-militar: os civis envolvidos fizeram parte do processo incondicionado de privatização de muitas das empresas públicas: da água à saúde, das pensões à educação, tudo acabou nas mãos dos privados e, assim, acabaram privando-nos do Chile. A devastação política levada a cabo pelo Golpe de 1973 levou à redação de uma Nova Constituição por parte de uma comissão cujo intelectual mais proeminente foi Jaime Guzmán Errázuriz, que legalizou o roubo sistemático das empresas públicas por parte de privados como um verdadeiro butim para o empresariado, articulando o Estado com base em uma matriz de caráter subsidiário que hoje está completamente em crise.
A Constituição de 1980 legitimou a identidade entre poder político e poder econômico, fundando, assim, uma nova ordem. Por isso, o problema do Chile não é a “ilegalidade”, mas sim a “legalidade” que está feita à imagem e semelhança dos poderes fáticos. Precarização das condições de vida e sua legitimação configuram as “marcas” que você assinala. O bombardeio do La Moneda é aqui o sinal da catástrofe: no incêndio e em Allende morto em seu seio, exibem o objetivo último da ditadura: a destruição completa da República e a sua substituição por um mall (shopping).
Espírito privatizador
Esse processo significou que a democracia não se concebeu em ruptura para com a ditadura, mas na sua realização fática. A ditadura se realiza em e como democracia: a própria Constituição política (1980) e o próprio sistema econômico (neoliberal) foi aprofundado em seu funcionamento democrático. A direita se identifica com o golpe de Estado e celebra a implantação daquilo que chama de “o modelo” como uma recodificação do padrão de acumulação de sua matriz desenvolvimentista a uma matriz flexível de corte neoliberal. E a Concertação de Partidos pela Democracia que derrotou Pinochet no plebiscito de 1988 foi derrotada, por sua vez, pelo sistema por ele legado.
O corpo físico de Pinochet foi derrotado, o corpo institucional derrotou os próprios democratas, convertendo-os em defensores do seu modelo. Os democratas de 1988 são os Santos Agostinhos do Chile, os convertidos. Modelo que, portanto, a Concertação não só não quis mudar, mas também aperfeiçoou e aprofundou em grande escala, aumentando as possibilidades do mercado e promovendo velhos e novos grupos econômicos para consumar o assalto desencadeado desde o Golpe de 1973.
Como viu o jurista chileno Fernando Atria, a Constituição 1980 está feita de tal forma que os poderes fáticos sempre ganham. Embora esta tenha sido reformada mais de 200 vezes durante a “transição”, em 2005, um presidente socialista (o primeiro depois de Allende), Ricardo Lagos, substituiu a assinatura de Pinochet pela sua própria assinatura. Essa substituição de uma assinatura por outra, sem mudar a matriz subsidiária do Estado proposto pela Constituição, é mais um sintoma, em vez de qualquer outra coisa: sintoma de que Pinochet foi introjetado na figura de Lagos, sintoma de que já não era necessária, portanto, a presença de um fascista como Pinochet para manter e promover o capital. Bastava a aposta biopolítica da democracia, marcada agora pela assinatura de um socialista “renovado” (ao estilo Blair).
O socialismo da democracia não só acabou legitimando o neoliberalismo herdado da ditadura, mas também aprofundando radicalmente em um pacto tático com as grandes corporações e seus grupos econômicos. Com isso, a Constituição acabou sendo legitimada pela oligarquia militar-financeira, mas inteiramente deslocada pela potência das ruas que palpitava de outro modo e suspeitava do “goverment by consent” [governo por consentimento] implementado pelos transitólogos e seu espírito privatizador.
Insurreição permanente
O advento dos movimentos estudantis começa a desbloquear a arquitetura tecida pelo texto constitucional que articulava poder político e poder econômico em uma mão só: o que parecia sagrado foi profanado, o que parecia um limite natural se tornou um problema histórico e político. A insurreição esvaziou o sistema consagrado na Constituição de 1980, e, então, as ruas se povoaram novamente de imaginação. Interrompeu-se, assim, a feliz carruagem da história. Com isso, a “classe política” ficou encurralada, sobrevivendo à sua própria miséria, tentando “moralizar” os milhares de casos de corrupção que apareceram em todo o espectro político (sobretudo na direita), insistindo na sua judicialização ou moralização e obliterando, assim, a questão decisiva de que, no Chile, não é que haja simplesmente corrupção, mas há uma guerra sistemática por parte dos poderes fáticos contra os diversos movimentos populares.
Trata-se de uma guerra pela apropriação não só dos recursos naturais (o cobre e o lítio, principalmente), mas, sobretudo, dos corpos em função da produção de um sujeito submisso e dócil, que, como ocorria com o fascismo, “ame” o seu patrão e “ame” a permanente precarização da sua condição. Nesse sentido, o fascismo atua como dispositivo da democracia. Os corpos continuam incomodando: ou são administrados através da multiplicação das Farmácias, terapias new age, consultas psicológicas, formas de judicialização ou seitas religiosas; ou estes se voltam para as ruas para pôr em questão a matriz subsidiária do Estado chileno fundado pela ditadura e aprofundado pela democracia.
É importante notar que o empresário no Chile quer ser “amado”, porque ainda tem o temperamento do padrão de fundo do século XIX e sua matriz colonial em que ele se concebe como o “pastor” de homens que guia suas ovelhas para a salvação. O êxito financeiro seria a salvação, e o trabalho, a “Via Sacra” para obtê-la. Hoje, esse périplo jesuíta que foi reinventado pelo Opus Dei e pelos Legionários de Cristo depois da devastação da Teologia da Libertação promovida a partir do Vaticano por Wojtyla, e com a qual a burguesia chilensis se identificou, no entanto, está vazio. Ele vive os seus últimos momentos. Mas essa agonia pode durar décadas (nenhuma teleologia determina o seu futuro). A única coisa que pode acelerar a sua decomposição é a insurreição permanente, inclusive silenciosa, da potência comum articulada pelos diversos movimentos sociais.
O sonho da salvação através do trabalho está no chão porque, na vida cotidiana, as pessoas entenderam, com a dança dos seus corpos, que não só devia pagar por cada coisa que faziam, mas também, além disso, por mais esforço que fizessem, existia um verdadeiro “sistema de castas” até certo ponto implícito, que, através de múltiplos dispositivos, determinavam o setor social a que se pertence. E o neoliberalismo aprofundou esse sistema toda vez que, como indicou Hayek em Os fundamentos da liberdade, concebeu os empresários como os “empreendedores” capazes de guiar o resto da sociedade.
Financeirização da existência
A contrapelo da figura do proletariado característica da tradição marxista, o neoliberalismo considera o empresário como a “vanguarda” da história que, como tal, a conduz e configura. Nesse sentido, o neoliberalismo é uma doutrina aristocrática, pois privilegia os “melhores”. Um aristocratismo econômico, e não político, como se pode depreender a partir da tradição grega.
Essa cena mostra que, no Chile, a vida está inteiramente financeirizada. Todo um dispositivo bioeconômico encontrou aqui, graças à divisão permanente instigada pela dinâmica neoliberal (que incluiu a destruição dos sindicatos e de outras associações sociais), um terreno fértil para combinar processos financeiros bancários com a educação, a saúde e com o sistema de pensões, armando, desse modo, uma verdadeira rede a partir da qual o capital financeiro sai fortalecido à custa de todo o restante da população. Um exemplo é a saúde: a ditadura desenhou um sistema previsional de saúde (a ISAPRE – sigla de “Instituições de Saúde Previsional”) de caráter privado, que tornou possível a identificação completa da vida biológica com o cálculo econômico-financeiro.
A vida se subsume inteiramente ao cálculo financeiro. Não se trata só do cálculo referido ao padrão de acumulação keynesiana, no qual esse cálculo ainda estava sujeito à exigência comum representada, mal ou bem, pelo katechón estatal-nacional, mas por um padrão de acumulação de corte neoliberal, que, excedendo o keynesianismo (tomando de assalto as instituições financeiras que o próprio Keynes tinha desenhado, como, por exemplo, o FMI), acaba produzindo uma vida biológica inteiramente financeirizada, isto é, uma vida que se comercializa na Bolsa mundial e se acumula nos bolsos de Wall Street. Uma vida desmaterializada a ponto de coincidir inteiramente com o fluxo do capital financeiro.
As doenças dos chilenos circulam todas aí. Ficar doente não é rentável, e, por isso, essas instituições mantêm um registro que chamam de “pré-existência” e que consiste em uma espécie de prontuário médico-policial das doenças de cada indivíduo. Com isso, avalia-se a rentabilidade da vida biológica de um indivíduo. Dispositivo que opera, em primeiro lugar, estabelecendo uma cesura de gênero, na qual, comparativamente, o plano de uma mulher de 35 anos é muito mais caro do que o de um homem da mesma idade, dada a sua possibilidade de gravidez. O fascismo aqui funciona estendido como racionalidade bioeconômica, procedimento burocrático sem fim, encravado não mais apenas a partir do padrão de acumulação keynesiana e do seu nomos estatal-nacional, mas também no novo padrão de acumulação flexível que caracteriza a geoeconomia neoliberal que o subsume (não o substitui, nem faz desaparecer o primeiro, mas o reconfigura no seu interior).
O fascismo militar de Pinochet se transformou nas lógicas bioeconômicas que atravessam a cotidianidade e cujas “marcas” se aprofundam ao financeirizar permanentemente a existência que aprofunda as formas de precarização da vida ou, o que é igual, a destruição do seu habitar.
IHU On-Line – Em que medida o totalitarismo como filho bastardo da Modernidade nos ajuda a compreender o recrudescimento do fascismo?
Rodrigo Karmy – Eu penso que “totalitarismo” é outra categoria complexa. Embora Hannah Arendt não pudesse ser considerada uma “liberal”, mas sim intempestiva e inteiramente fora dos marcos identitários com os quais a academia gosta de tranquilizar, a categoria de “totalitarismo” se converteu em uma categoria liberal que, sem dúvida, tem o perigo para as esquerdas de cair no humanismo que apela à “consciência”, à “razão” e no seu progressismo de tornar o mundo “mais humano”, deixando de lado a raiz do problema.
Parece-me que se deveria entender que não se trata de “humanizar”, mas de criticar radicalmente não o “totalitarismo” de forma seca (assim como nem o “fascismo” de forma seca), mas o “revés” em que soberania e biopoder se articulam como a dobra sobre a qual se une o padrão de acumulação capitalista. Trata-se, para dizer de forma mais geral, não do “totalitarismo” nem do “fascismo”, mas do capitalismo como esse modo de produção orientado à destruição completa do habitar e que, como o próprio Benjamin indicou, constitui a nova forma de religião. Uma religião derivada das anteriores, sem dúvida, mas que será substancialmente diferente delas.
Pensar a partir de Benjamin o capitalismo como religião implica em advertir o modo pelo qual este converte todas as religiões anteriores em seus parasitas para, a partir daí, conceber o fascismo como um dos núcleos do seu operar. O capitalismo é uma religião sem salvação e que se baseia exclusivamente na produção incondicionada de culpa/dívida (Schüld é o termo usado por Benjamin com claras ressonâncias nietzschianas). O capitalismo contemporâneo segue nesse horizonte (não é verdade que só o capitalismo atual se dedica a produzir dívida/culpa, mas, desde sempre, o capitalismo não foi nada mais do que a sua produção incondicionada). Produção daquilo que, em seu discurso religioso, ainda se chama de “pecado”, o discurso jurídico denomina de “culpa” e, na época neoliberal, assume o nome econômico de “dívida” creditícia.
Nesse sentido, o fascismo seria a força propulsora dessa estranha religião que chamamos de capitalismo; não a sua anomalia, mas o seu núcleo “necropolítico”, para utilizar a terminologia de Achille Mbembe e que nada mais é do que o quiasmo desse “revés” entre as duas racionalidades do poder indicado por Foucault. Sob essa luz, a mutação experimentada pelas religiões monoteístas na nova cena capitalista é fundamental: as diversas religiões são esvaziadas de conteúdo, pois ingressam em um novo horizonte de inteligibilidade em que perdem toda a sua eficácia simbólica consumando assim (e sendo consumidas por) seus dispositivos no novo modo de produção capitalista, essa nova “religião”.
O “deus” dinheiro
Desse modo, a religião se converte em um suporte do discurso fascista, que, pretendendo voltar a um passado mítico, de fato, derrama todas as suas energias para promover o futuro do capital. Isso é, com efeito, o ISIS, hoje, uma grande empresa transnacional que comercializa petróleo, recruta trabalhadores de todo o globo que estão inteira e radicalmente identificados com ela e que, além disso, têm um caráter polifuncional: são guerrilheiros, comerciantes e piedosos. Tudo de uma vez. Por isso, são uns esnobes completos. A sua tecnologia espetacular atesta isso. A facticidade do capital não é mais do que a sua única religião, e, nisso, eles se parecem com os grandes capitalistas de Wall Street na sua economia, à polícia estadunidense no seu exercício do poder, e a Hollywood na sua produção midiática. O ISIS (Estado Islâmico), assim como os EUA, são a guerra civil global como forma de adoração última à última das religiões, o capitalismo, e ao último dos seus deuses, o dinheiro.
IHU On-Line – Em que sentido o estado de exceção e a biopolítica são as bases de sustentação de um pensamento fascista que é incapaz de dialogar e respeitar a alteridade?
Rodrigo Karmy – Como eu assinalava na primeira pergunta, para abordar as formas em que o fascismo opera e fazer desta uma categoria medianamente analítica, é fundamental identificar o funcionamento do “revés” entre soberania e biopoder. Esse quiasmo, esse cruzamento, essa dupla face do poder constitui o horizonte geral a partir do qual é possível indagar o modo pelo qual se pôde produzir a experiência fascista e a sua extensão contemporânea em suas formas neoliberais. Pois bem, a questão do “outro”, eu não a veria a partir do ponto de vista liberal que utiliza a noção de “tolerância” e “diversidade”, dentre outros termos. Em vez disso, eu me focaria na aposta de um “outro” como uma vida concebida como potência comum.
Uma vida fora de si, jamais idêntica a si mesma, em uma difração tal que nunca pode ser contemporânea a si mesma. A vida não é alcançada em “si mesma”, porque, quando isso acontece, abre-se outro fluxo, outra passagem que impede a sua (auto) sutura. Ao ser potência, a vida carece de uma forma em particular e, no entanto, é capaz de devir em todas as formas possíveis. Por isso, não há vida sem imaginação, todas as vezes em que esta pode ser vista como um fluxo assubjetivo que oferece múltiplas formas àquilo que, por definição, carece dela.
A vida é imprópria e impessoal, pois não é de ninguém e não se refere a nenhuma pessoa em particular. De todos e de ninguém, ao mesmo tempo, a vida se escombra como radicalmente comum. Os dispositivos – e o capital como um dos mais importantes na atualidade – pretende fazer desta uma “propriedade”, seja sob a forma de uma “coisa” ou, mais especificamente, como uma “força de trabalho”. Captura o seu caráter medial. Captura os meios. Mas a dimensão medial da vida excede tais formas. Encontra a sua fuga, não se encaixa nas formas que a própria força do capital configura. E essa incoincidência ameaça deslocar, todas as vezes, a sua lógica em uma dimensão absolutamente potencial e radicalmente escarnada.
Terror como paixão cotidiana
A vida nada mais é do que relação com o outro de si, um ser-com em termos absolutos, aquilo inteiramente an-árquico que não obedece a nenhum princípio ou fim. Nesse sentido, vida é o termo para designar uma medialidade (Agamben) ou, o que é o mesmo, um modo de habitar (isto é, uma imanência entre vida e mundo). O fascismo é a captura total da vida e a privação do seu mundo. A captura da vida a priva do mundo e faz do mundo um “meio ambiente”. Ou, ao menos, a tentativa de captura total. Mas, como isso nunca é possível, então, o fascismo deve inventar inimigos: o “outro” aparece como o delinquente que, sendo quase sempre de classe baixa, imigrante, pobre e marginal, ameaça o caráter sagrado da propriedade. Produz-se, assim, não mais o medo da era clássica (Hobbes), mas o terror como uma paixão cotidiana que, por sua vez, implemente a exceção cotidiana.
Nesse plano, parece-me que o conflito decisivo do nosso tempo é jogado entre duas noções de anarquia: entre a anarquia imposta pelo capital como última forma de gestão imperial e a an-arquia do ser-com, que administra populações contra aquela que reivindica uma vida comum ou, para recuperar uma terminologia proposta por Hamid Dabashi no seu livro The arab spring. The end of postcolonialism [A primavera árabe. O fim do pós-colonialismo, em tradução livre]: entre um ethnos que reivindica o sectarismo da guerra civil global como articulação da anarquia capitalista e o ethos como aposta no poder comum que restitui à vida a sua medialidade e desfaz os sectarismos em um novo “cosmopolitismo mundano” (Dabashi).
IHU On-Line – Quais são os limites e possibilidades da democracia num cenário de crescente intolerância e submissão a mecanismos econômicos e jurídicos?
Rodrigo Karmy – É uma pergunta-chave, porque é o que nos permite refletir sobre a democracia, como eu acabei dizendo no fim da primeira pergunta. Por essa razão, o primeiro que eu faria, seria advertir o quão problemático é continuar pensando com base no binômio “democracia-ditadura”. Em vez disso, é preciso desativar tal binômio em função de mostrar que não se trata de salvar a “democracia”, mas sim desarticular as formas “religiosas” do capitalismo. Nesse contexto, o termo “democracia” também é um termo sagrado que faz sistema sagrado com o seu contrário, a “ditadura”. Isso não me parece estranho se considerarmos o fato de que o termo “democracia”, talvez, constitui o último suporte do discurso imperial.
Desde 1492, o eixo hispano-português assumiu a forma da “evangelização”, depois, houve um revezamento com a entrada do eixo franco-britânico em que a missão se articulou com base no termo “civilização”, e, finalmente, no revezamento que compromete os EUA e a Otan, este se projeta como a “democratização”. Esse périplo mostra que, do ponto de vista da razão imperial, “democracia” é um termo sagrado, que, como tal, foi capturado pela racionalidade geoeconômica global. Sob essa luz, o termo “democracia” foi capturado pelos mesmos que não têm pelos na língua para destruí-la e, como aconteceu no meu país, convertê-la em um novo aparato em que se extinguem os seus privilégios. Nesse registro, Evangelização-Civilização-Democratização configuram a trama imperial do Ocidente que, articulada com base na matriz pastoral, acabou fazendo da “democracia” a sua última e verdadeira “missão”.
Profanação democrática
Mas o termo “democracia” — assim como nenhum outro termo — não está totalmente perdido. Os milhares de movimentos populares em nível global a reivindicam. Com isso, subtraem-na da aura de sacralidade a que ela foi cominada profanando-a em uma interrupção radical contra as formas em que se cristaliza a anarquia do capital global. Profanar a democracia significa, nesse sentido, interromper a sua captura aurática, extraí-la da “vitrine” a que as grandes corporações a reduziram, dar-lhe um novo uso que impeça o seu fechamento teológico. Profanar a democracia e fazer da democracia um trabalho político de profanação significa restituir a medialidade da vida ou, o que é o mesmo, fazer a experiência de um habitar em que o ethnos da população se dissemina no ethos de uma vida comum.
Nesse sentido, a palavra que Michel Temer pronunciou ao assumir o cargo da presidência temporária do Brasil é inquietante: “confiança”. Iniciar um governo com esse termo é uma declaração explícita em favor do neoliberalismo. É uma das suas palavras prediletas. “Confiança” não é um termo político nem democrático, mas um termo teológico e financeiro. Esse é o sintoma.
IHU On-Line – Por outro lado, qual é a influência da mentalidade corporativista, empresarial e financeirista no aprofundamento dos ódios e intolerâncias sob a roupagem de legalidade?
Rodrigo Karmy – Benjamin dizia por aí que o “assombro com o fato de que as coisas que vivemos sejam ‘ainda’ possíveis no século XX não é nenhum assombro filosófico”. Nesse sentido, se o núcleo do modo de produção capitalista é a guerra, por que nos surpreendemos com os exercícios “excepcionalistas” e os seus adornos literalmente racistas? O “assombro” é sintomático do “humanismo” que ainda tem esperança em uma razão, consciência, sujeito ou pessoa. Penso que devemos nos desmarcar desses termos e do historicismo que eles trazem acoplado. Em vez disso, devemos nos voltar para uma crítica radical do “humanismo” e nos “assombrarmos”, ao contrário, de que o “assombro” frente a esse tipo de coisas ainda seja possível. Enquanto a anarquia do capital ainda continue em vigor, as “intolerâncias” vestidas de “legalidade”, mas também as “legalidades” abertamente intolerantes (por exemplo, a proibição de usar o véu no espaço público francês) serão inteiramente possíveis.
IHU On-Line – Acredita que está havendo uma redução do espaço político/público nas democracias tendo em vista essa conjuntura? Por quê?
Rodrigo Karmy – Sim, porque a própria dinâmica daquilo que chamamos de “democracia” está articulada como expansão do capital. Essa expansão, promovida pelo novo padrão de acumulação neoliberal, privatizou toda a vida social. Nesse sentido, é preciso trabalhar por uma profanação da democracia e exibir, assim, a democracia não mais como telos histórico, mas como uma potência comum capaz de interromper a destruição capitalista em favor de uma restituição do habitar. Chamo de “habitar” a imanência entre vida e mundo (não só a vida “humana”, mas toda a vida) que o processo de acumulação capitalista se orienta em destruir permanente e sistematicamente. “Habitar” é fazer a experiência de um meio. Por isso, sempre se habita em um meio. Um meio pode ser de um poema até uma casa, de um vestido até um país, de um bicho de pelúcia usado por uma criança a uma praça povoada de manifestantes.
Não acredito, nesse sentido, que estamos vivendo na época daquilo que foi denominado de “antropoceno”, mas na do “capitalismoceno”, em que a vida em geral passou a ser desabitada pelo modo de produção capitalista. O capitalismo é o nome não só de um sistema econômico, mas também de um modo de destruição do habitar, ou, o que é igual, de uma captura sistemática dos meios. Não é o “homem” em geral, mas sim o modo de produção capitalista. Talvez, o ecologismo não possa enfrentar esse problema, porque ainda se sustenta com base em um “humanismo” (inclusive, um “humanismo” estendido aos animais, como aquele de Peter Singer, que pretende convertê-los em sujeitos de direito, sem pôr em questão a racionalidade do próprio direito). Como assinalei antes, o projeto geoeconômico do capitalismo atual consiste na transformação da potência comum dos povos em um conjunto de seres estatisticamente administráveis que define a população. A redução do “espaço público” deve ser vista como a destruição do habitar ou, se se quiser, a destruição de um meio.
Habitar os meios
A figura do refugiado, por exemplo, nos mostra a radicalidade dessa destruição: a vida ficou privada de mundo, e o mundo, por sua vez, ficou extinto de vida. Uma vida sem mundo e um mundo sem vida significam fazer da vida um simples corpo, e o mundo, um “meio ambiente”. Destruir o habitar, portanto, envolve converter os povos em populações, privando assim a vida da sua dimensão constitutivamente comum. Pelo termo “habitar”, eu não entendo senão o que está em jogo em um meio como lugar. “Habitar” é fazer a experiência de um meio. Um “objeto transicional” como aquele descoberto por Winnicott em relação às crianças que vai desde um pequeno objeto que a criança investe de fantasia até a Praça Tahrir no Egito, em que fluía a imaginação, são diferentes “meios” em que habitamos. Porque imaginar é uma experiência medial, por definição.
O modo de produção capitalista destrói os meios, captura-os e impede o habitar. O niilismo do capital que se entronca com a imagem nietzschiana do “deserto” remete à destruição dos meios: o campo de concentração ou a contaminação das águas e do ar são formas de tal destruição, todas as vezes em que “água” e “ar” não são simples elementos químicos, mas meios muito precisos em que habitamos permanentemente.
IHU On-Line – Em termos de América Latina, pode-se falar num “giro à direita” nas sociedades e nos governos? Por quê?
Rodrigo Karmy – Sobre a América Latina, eu só posso falar de forma muito aproximada, porque o meu trabalho não esteve totalmente dedicado a pensar a nossa região. Penso, no entanto, que os trabalhos de Oscar Ariel Cabezas, Rita Segato, Silvia Rivera Cusicanqui, Gladys Tzul, Verónica Gago, Vladimir Safatle ou Boaventura Sousa Santos têm a profundidade de que eu careço para responder à sua pergunta. O que eu tentaria seria apenas uma apreciação geral, desculpando-me de antemão pela própria generalização que desatende as singularidades dos processos.
A América Latina passou por uma época militar-neoliberal ante a qual os movimentos sociais, e somente eles, deram uma resposta. Uma resposta que teve o seu acontecimento central em 2001, com a queda de De la Rúa e a enorme crise política e financeira da Argentina. A partir daí, várias foram as mudanças: na Venezuela, Chávez ganhou; na Bolívia, Morales ganhou; no Paraguai, Lugo ; no Brasil, Lula ; no Equador, Correa (e, no Chile, curiosamente, nada, porque, dentre outras coisas, o sistema político expressado na Constituição de 1980 o impede) etc. Mas todos esses governos ganharam graças aos movimentos que lhes deram apoio e vida. No entanto, tenho a impressão de que se “estatalizaram” e abandonaram os próprios movimentos que os haviam apoiado. Nesse sentido — também não é nada mais do que uma impressão — o seu objetivo se focou em estabelecer um circuito alternativo para a circulação do capital ao revés daquele dominado pelos EUA.
Nisso, eu sigo as palavras de Sousa Santos proferidas em uma recente entrevista: não mudaram o modo de produção de corte extrativista, mas o aumentaram, aproveitando a elevação das matérias-primas promovida pela China. Com isso, afastaram-se dos movimentos e comunidades que lhes deram origem, abrindo conflitos graves com eles e, abrindo um canal alternativo para a circulação do capital que não passava necessariamente pelos EUA e pelo FMI, diversificaram-no sob uma estética “folk” (latino-americanista).
Insuficiência teórica
Isso não significa que esses governos não foram importantes na articulação e defesa dos espaços públicos, na extensão de direitos civis de muitos grupos e comunidades que jamais tiveram nem voz, nem voto, e no retrocesso das políticas neoliberais aplicadas ao pé da letra durante os anos 1980 (pense-se nas novas constituições redigidas na Bolívia, Venezuela ou Equador, por exemplo). No entanto, tudo isso foi possível pela articulação dos movimentos que lhes deram apoio e que, progressivamente, foram abandonados em favor de uma opção extrativista que, em muitos casos, acabou apelando a um “nacionalismo” de corte anti-imperialista, a partir do qual se alimentou a circulação “folk” do capital.
Acredito que a atual distância de muitos dos movimentos — e intelectuais — que apoiaram esses governos, em uma primeira instância, tem a ver com o fato de terem visualizado esse problema que, agora, começava a atentar contra as suas próprias comunidades. Entre uma direita sempre à espreita e alguns movimentos deslocados pela própria força das lógicas extrativistas aplicadas pelo Estado, os governos “progressistas” parecem ter ficado sozinhos. E o triunfo eleitoral das direitas (por exemplo, na Argentina, que é precisamente um dos lugares onde se acendeu a centelha em 2001) sintomatiza o escanteamento dos governos que se institucionalizam. Nesse sentido, parece-me fundamental propor que o problema do “segundo tempo” dos governos progressistas não pode ser concebido exclusivamente como um assunto de conjuntura econômica, mas, sobretudo, como um problema teórico.
Entendendo, contra a facticidade contemporânea que insiste que os problemas teóricos estão “afastados” da vida comum, que um problema de crítica teórica é um problema essencialmente político. Aqui, houve um problema teórico que foi pago politicamente. Um problema teórico que não transformou o modelo “extrativista”. E a pergunta é: por que não se mudou tal modelo? Que diagnóstico teórico foi feito para que ele se perpetuasse? Eis aqui as perguntas que me parecem cruciais. Eu me pergunto se essa insuficiência teórica (insuficiência que, talvez, era impossível de diagnosticar nesse momento) não terá sido porque a esquerda intelectual só pensou na restituição da soberania política (leitura de Schmitt), deixando de lado o diagnóstico das condições materiais de produção do capitalismo contemporâneo.
Golpes de precisão “democrática”
É aqui onde não só a direita em sua dimensão partidária, mas, acima de tudo, em seus poderes fáticos, encontrou a sua oportunidade. Oportunidade fática que transformou a lógica dos golpes de Estado que haviam sido dados na América Latina. Para um golpe de Estado, já não é necessário um levante militar. Basta o jogo que oferece a própria “democracia” e, no caso do Brasil, basta transformar os meios de comunicação em um verdadeiro partido político “reacionário”, como disse Safatle. O antecedente imediato foi o modo pelo qual o presidente Lugo foi destituído no Paraguai e o presidente Zelaya em Honduras. Dois “golpes” executados com a precisão da “democracia”, que, parece-me, converteu-se o novo modelo seguido pelos poderes fáticos. Já não é necessário trazer os militares, basta a lógica das democracias para agir.
Seja em sua forma judicial-midiática (Rousseff), policial (Correa, que não deu resultados) ou parlamentar (Lugo). Os poderes fáticos entenderam que a democracia era a cena mais eficaz não só para conservar o poder, mas também para articulá-lo em seu favor.
O modelo para exercer a facticidade é a democracia, e não mais a ditadura. E é aí em que a questão da “assinatura” de Pinochet e Lagos a que eu me referia algumas perguntas atrás é central como modelo: é a “democracia” que traz consigo a facticidade militar-financeira, é a “democracia” como última forma de gestão imperial que torna possível o triunfo dos poderes fáticos. Nesse sentido, vivemos uma luta pela apropriação da democracia: esta será entendida como legitimação incondicional do capital global ou como a aposta dos povos em articular a sua potência comum. Eis aí a necessidade da profanação da democracia como uma política orientada à restituição do seu poder comum e, portanto, como subtração da sua sutura aurática oferecida pelo capital global. Contudo, o “giro à direita” que você assinala implica o retorno — se é que alguma vez ele foi embora de verdade — com glória e majestade do Fundo Monetário Internacional ao continente (como indicou Macri na Argentina e como se adverte nas palavras usadas por Temer ao assumir a presidência interina).
Mas eu voltaria ao problema da crítica teórica: até que ponto esse “giro à direita” já se anunciava na segunda etapa dos diferentes governos de esquerda aqui referidos? Não é urgente fazer uma crítica teórica (aí onde o teórico é radicalmente político) dos “segundos tempos” em que se produziu a distância?
IHU On-Line – Qual é o peso da despolitização nesse cenário, pensando nas democracias aclamatórias e de massas, como reflete Agamben?
Rodrigo Karmy – É um fator chave, sem dúvida. Embora eu tenha reticências em falar de “despolitização”.
Ao contrário, parece-me que o projeto neoliberal não despolitiza, mas politiza a própria economia. Ao fazer essa operação, ele desbarata e esvazia todos os dispositivos com os quais se nutriu a política articulada a partir do nomos estatal-nacional. Despolitiza todo um conjunto de dispositivos para politizar outros: a economia, precisamente. E o termo fundamental que ele usa para tal politização é o de “liberdade”. A minha hipótese é de que o termo “liberdade”, nos teóricos neoliberais, é análogo (não igual, mas análogo) ao de soberania nos filósofos modernos. “Liberdade” é o termo para designar a decisão corporativa-financeira do capital. Ou, como bem mostrou Elettra Stmilli, é o “operador” cristão da nova governamentalidade neoliberal.
Sob essa luz, o exercício governamental reconfigurou o que chamamos de “política”, mas continua sendo radicalmente político, na medida em que implica a devastação total da nossa vida comum. Uma política orientada a produzir populações. Uma política orientada a estruturar uma ordem. Uma política, no fim, que decide o destino do Estado e que, no seu operar microfísico, estabelece o dinheiro como o vínculo político por excelência (ou seja, alguém poderá ingressar neste ou naquele lugar somente se tiver dinheiro). Essa politização extrema do mercado alcança a sua figuração completa na produção espetacular. Nesse sentido, o dispositivo da “aclamação”, que, para o fascismo clássico, ainda era operado a partir do Estado, se desloca definitivamente para os meios de comunicação de massas para configurar aquilo que Guy Debord chamou de “sociedade do espetáculo”.
Universidade corporativo-financeira
Essa também é uma política orientada à destruição da potência comum da linguagem (aquilo que alguns teóricos chamaram de “capitalismo cognitivo”) e à sua rentabilidade individualizante. Nesse sentido, a Universidade se transformou em um novo campo do capitalismo financeiro. O “saber” coincide hoje inteiramente com o “capital”, e a outrora Universidade estatal-nacional se vê desabitada em suas lógicas pela Universidade corporativo-financeira. Se voltarmos ao nascimento da Universidade na cultura ocidental, devemos atentar para o conjunto de lutas que atravessaram aqueles que defendiam o caráter “comum” de tal espaço e aqueles que reivindicavam sua natureza “corporativa”. Os primeiros leram Averróes e assumiram uma tese acerca do intelecto comum que lhes permitia legitimar a filosofia como discurso frente à teologia propiciada pela Igreja Católica que insistia na natureza individual de tal intelecto. Nesse sentido, temos que nos perguntar se a universidade corporativo-financeira não é a herdeira direta dos teólogos, na medida em que se orienta à captura do intelecto comum em virtude de sua capitalização corporativa.
Uma revolta universitária jamais pode ser apenas universitária. É, acima de tudo, uma revolta do comum (e não “pelo” comum, como se este fosse um ideal a ser realizado, que requer o “sacrifício” para alcançá-lo). A revolta do comum implica em desativar o horizonte teleológico da “filosofia da história do capital”, como propõe Sergio Villalobos-Ruminott, e impugnar o projeto geoeconômico, abrindo o fluxo imaginal.
É aqui onde um “averroísmo” é crucial: frente à maquinaria teológico-governamental do espetáculo, que acabou convertendo a imagem em signo, a aposta “averroísta” busca abrir o fluxo imaginal sem ser capturado por qualquer “transcendental”, como a consciência, sujeito ou a noção de pessoa. É aí onde a tarefa intelectual tem o seu lugar: o intelectual, parece-me, não está aí para dizer aos povos o que devem fazer, mas para dar curso a imagens que permitam inteligir — isto é, habitar — o presente. O intelectual tem uma tarefa de composição de imagens antes que de acumulação do saber. Tarefa cinematográfica antes que especulativa. Tarefa que ele compartilha — sem se identificar — com o poeta, com o diretor de cinema ou com o pintor.
IHU On-Line – Estaríamos vivendo democracias sem “demos”? Por quê?
Rodrigo Karmy – Há uma cena do filme “Intervenção divina”, do diretor palestino Elia Suleiman, que me parece fundamental para responder a sua pergunta. Suleiman aparece como ator mudo, dirigindo um carro a toda a velocidade. De repente, tira um pêssego e começa a comer enquanto dirige. O personagem mantém o seu olhar diante de uma rodovia vazia e em meio a um som homogêneo como o do motor que vai a toda a velocidade pela infinitude da rodovia. Em um momento, ele termina de comer o pêssego e joga o caroço pela janela. O caroço atinge um tanque israelense estacionado na beira da estrada. E explode subitamente em mil pedaços.
Eu acho que essa cena mostra outro modo de entender o demos: este último não pode se circunscrever ao horizonte teleológico de corte sacrificial que estruturou o discurso emancipatório da Modernidade. Ao contrário, o caroço jogado por Suleiman expressa o caráter não teleológico do político. Um caroço insignificante acaba fazendo explodir o tanque israelense. Um caroço que é um resto de um fruto já comido acaba se constituindo como a melhor arma contra a ocupação.
Se, no nosso tempo, vivemos em uma Palestina gigante que chamamos de globalização e, portanto, estamos todos, em diversos graus, vivendo sob ocupação (como diria Mahmud Darwish, estamos todos em um “estado de sítio”), então requeremos uma “política do caroço”, tal como Suleiman nos oferece no seu filme. O caroço é um resto da ocupação, o meio liberado da sua captura por parte do capital. Acho que Suleiman faz do caroço o demos pelo qual você pergunta. Um demos que já não se circunscreve à égide sacrificial da soberania, que não é um “meio” para um “fim” (teleologia), mas aquilo que Agamben chamou de meio puro. O demos não existe em si mesmo. Ele não existe por natureza, mas também não responde ao acaso. Suleiman exibe o meio sob a forma de um caroço. O caroço como último reduto do habitar que, por sê-lo, é um meio puro que faz explodir o tanque israelense no meio do nada (a rodovia). O caroço subtrai o horizonte sacrificial (o tanque israelense) e o desativa. A partir da fria rodovia (que nada mais é do que a imagem do niilismo), Suleiman oferece um meio para habitar (o caroço). Eis aí, parece-me, a cena-chave sobre a qual se deveria pensar.
IHU On-Line – Gostaria de acrescentar algum aspecto não questionado?
Rodrigo Karmy – Queria somente agradecer a sua entrevista e me solidarizar inteiramente com o povo brasileiro que hoje vive horas decisivas.
–
Imagem: diarioliberdade.org