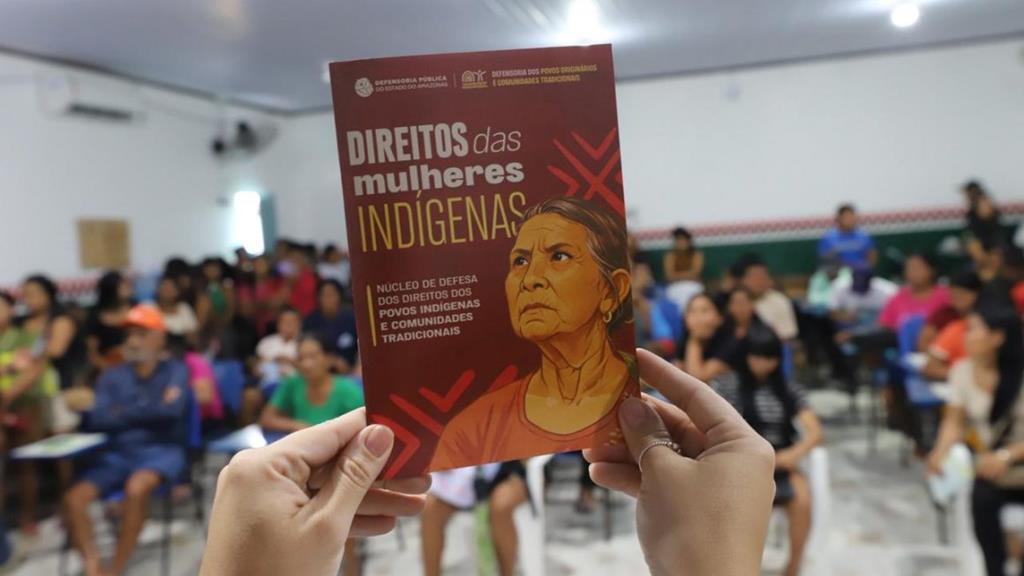A diversidade biológica, cultivada ao longo do tempo por povos indígenas e tradicionais, sempre foi vista por grandes fazendeiros e pecuaristas como um empecilho à expansão da agropecuária capitalista
No Le Monde Diplomatique Brasil
A Amazônia tem sido objeto de intensa discussão no plano do meio ambiente, de sua importância no combate às mudanças climáticas, na regularização de chuvas para a agricultura em outras áreas do país e sua influência na qualidade do ar das grandes cidades.[1] Os desastres da política antiambiental do governo Bolsonaro e suas repercussões negativas sobre as exportações brasileiras de commodities passaram a preocupar inclusive fundos de investimentos, grandes empresas exportadoras e ex-ministros da Fazenda. Tem-se discutido menos, porém, o papel dos povos indígenas na preservação dessa floresta, na luta secular para protegê-la com seus conhecimentos e sua cultura material e imaterial – povos cujos direitos estão sendo ameaçados, hoje, a partir de ações gestadas de dentro mesmo da máquina governamental.
A diversidade biológica, cultivada ao longo do tempo por povos indígenas e tradicionais, sempre foi vista por grandes fazendeiros e pecuaristas como um empecilho à expansão da agropecuária capitalista. As monoculturas de exportação ocupam correntemente terras em grandes extensões com poucas espécies homogêneas tratadas com química e transgenia. Quando o capitalismo mundial despertou para as possibilidades da biotecnologia, a diversidade biológica, cultivada historicamente por pequenos agricultores, povos indígenas e tradicionais, mudou de nome e passou a ser vista como fonte de riqueza – a “biodiversidade”. Mas no Brasil atual, nem mesmo enquanto riqueza potencial a diversidade biológica é valorizada, pois os governantes de hoje repetem, desde a campanha eleitoral de 2018, pretender retirar terras aos indígenas e reduzir o espaço ocupado por unidades de conservação.
No plano simbólico, também atacam as culturas indígenas e têm como projeto, como se viu na infame reunião ministerial de 22 de abril de 2020, eliminar suas identidades e mesmo suas nomeações. Mas se “biodiversidade” há é em razão do trabalho de longo prazo de grupos sociais e étnicos que foram vistos pelos poderosos ao longo da história como obstáculo à expansão da grande monocultura comercial. Estigmatizados pela ideologia colonial e, em seguida, pelas lógicas predatórias e produtivistas do agronegócio, estes povos são hoje, ao mesmo tempo, vitimados mais que proporcionalmente pela epidemia de Covid-19 e objeto de manifestações renovadas de racismo, acusados por alguns porta-vozes tortuosos da retórica neofascista, de serem agentes da contaminação.[2]
Voltemos um pouco no tempo. No debate amazônico, nos anos 1980, havia uma combinação, nas forças então no poder, entre dois tipos de discurso: um que evocava a soberania – protagonizado por setores militares – e um discurso do interesse econômico, enunciado por oligarquias regionais e grandes corporações. Em nome da soberania, alegava-se a necessidade de ocupar os territórios supostamente vazios e ameaçados por forças estrangeiras. O projeto da ditadura já havia usado esse discurso, tentando reduzir os conflitos por terra no Nordeste, atraindo trabalhadores rurais para projetos de colonização na Amazônia. Hoje sabemos que isso foi feito à custa do enorme sacrifício dos trabalhadores para lá atraídos e do genocídio de povos indígenas.[3]
O discurso da soberania preocupava-se em controlar territórios e fronteiras. Mas para as grandes corporações multinacionais e oligarquias regionais não importava a soberania, mas o interesse que tinham em transformar rios, matas e subsolo – ecossistemas e paisagens amazônicos – em fonte de lucros. Território a controlar para os militares; coisas a se apropriar para as oligarquias e grandes empresas. Então, como agora, nenhum olhar para a relação entre homens e coisas, as coisas criadas, paisagens locais com interações simbólicas e materiais entre espíritos, homens, lenha, pasto, água, caça e pesca – uma história acumulada do lugar.
Hoje, a noção de soberania virou um mero recurso retórico para justificar a exploração da Amazônia a todo custo, o descontrole do desmatamento e das queimadas. O que dizem os atuais governantes é que não importa o indígena, nem a árvore; menos ainda as relações entre eles. Importa só o minério, as terras e as águas como matéria e espaço para a obtenção de lucros e divisas. Tudo agora se resume a interesse econômico das grandes corporações, antecedido como é pela ação prévia de agentes do desmatamento ilegal, da grilagem e do garimpo. Ante as pressões internacionais sobre as políticas antiambientais do governo brasileiro, a partir de meados do corrente ano de 2020 uma parte do agronegócio exportador de commodities passou a demonstrar preocupação com a perda de mercados e com a construção do que entendem ser seu “capital reputacional”.[4] Os teóricos do management definem a “reputação” como um ativo empresarial intangível resultante da percepção que a sociedade tem do comprometimento das firmas com o respeito a leis e normas, e de forma mais geral, da confiabilidade demonstrada pelas práticas das corporações. Por trás da reputação, as empresas enxergam o volume de suas vendas, ou seja, a possibilidade de assegurar lucros de longo prazo e evitar perdas importantes em caso de eventos que comprometam sua imagem. No entanto, é sabido que o avanço histórico da fronteira da grande agropecuária sobre o Cerrado e a Floresta Amazônica deu-se, em grande parte, tendo por base o que ficou conhecido por “assalto cartorial” a terras públicas.[5] A reputação, portanto, já não era boa. Agora, com a desmontagem das agências ambientais, a estratégia governamental de esconder dados e a justificação moral do desmatamento pelo ministro Paulo Guedes, verifica-se que o que o governo pretende fazer valer é um anti-ambientalismo de resultados. A busca de reputação por parte das grandes corporações é tanto maior quanto maior é o desprezo demonstrado pelo governo por sua própria reputação. O “departamento de reputação” do governo foi transferido para o general Mourão, que tem procurado fazer da militarização da questão amazônica uma operação de marketing das próprias FFAA, ainda que associada à enorme retirada de recursos dos órgãos capacitados e autorizados ao controle ambiental da região, como Ibama e ICMBio.[6]
Como explicar o esvaziamento do discurso da soberania e a priorização, na Amazônia, do interesse do grande negócio da mineração, do agronegócio e do hidronegócio em detrimento da integridade dos territórios dos povos indígenas e comunidades tradicionais?
É sabido que, ao longo dos anos 1980, verificou-se um processo de “ambientalização” dos Estados: criaram-se instituições de controle e pretendeu-se gerar alguma regulação ambiental para evitar, por exemplo, que o rompimento de uma barragem contaminasse uma bacia, comprometesse a pesca e o abastecimento de água das cidades; ou que as matas fossem derrubadas, alterando o regime de chuvas e a vitalidade dos rios.
Só que as reformas neoliberais, iniciadas nos anos 1990, passaram, em paralelo, a desfazer, como uma Tapeçaria de Penélope, as regulações que haviam antes sido criadas: o que se fazia de dia se desfez de noite. Na mitologia grega, Penélope é a mulher de Ulisses, que, enquanto aguardava o seu retorno de viagem, sem notícias, dizia que só aceitaria se casar com outro quando terminasse de tecer um tapete, que, à noite, desfazia às escondidas. No caso brasileiro, esta flexibilização da legislação esteve associada a um processo de “ambientalização truncada” do Estado, ou seja, uma ação que foi interrompida, deixada incompleta ou impedida de ser levada a cabo. Pois logo após a criação de instituições de controle ambiental, passaram a prevalecer fortes pressões econômicas por flexibilização de leis e normas – vejam-se, por exemplo, os casos dos novos códigos florestal e mineral, mais permissivos.
Com a vitória das forças do liberal-autoritarismo nas eleições de 2018, instaurou-se no Brasil o que poderíamos chamar de uma Tapeçaria de Penélope à luz do dia: o que se fez de dia se desfaz de dia mesmo. O que eram pressões de bastidores por flexibilização de leis, liberação de práticas de degradação de ecossistemas e expropriação dos pequenos produtores, comunidades indígenas e quilombolas, tornou-se discurso explícito. O que temos visto nesse processo de “desambientalização” do Estado brasileiro é a convergência, dentro do governo, entre um antiambientalismo liberal e um antiambientalismo autoritário.
O antiambientalismo liberal é aquele que alega que quanto mais liberdade houver para as corporações, mais dinheiro elas ganharão e mais recursos restarão, supostamente, para a proteção ambiental. Este antiambientalismo de corte liberal, originado nos Estados Unidos em torno ao chamado Wise-Use Movement, sempre propugnou a remoção das regulações de proteção ao meio ambiente, sugerindo que os produtos naturais são mais perigosos que os industrializados, que a reciclagem obrigatória de certos produtos leva a que se consuma mais recursos do que se poupa e que o corte intensivo de árvores favorece o crescimento das florestas (sic).[7]
Este antiambientalismo liberal, que procura hoje, entre nós, desconstituir a questão pública do meio ambiente, articula-se a um antiambientalismo autoritário e racializado que busca justificar a expropriação de povos indígenas e quilombolas, para que se faça uma espécie de colonização ou privatização de fato do uso dos espaços comuns das águas, do ar e dos sistemas vivos, em favor das grandes corporações e em detrimento dos mais despossuídos. Exemplos disso são a extinção do comitê de suporte ao Plano Nacional de Contingências para Incidentes de Poluição por Óleo em Água, a perseguição aos funcionários que fiscalizam e aplicam leis contra a degradação da floresta e invasão de terras indígenas, assim como o veto do atual governo brasileiro ao artigo da Lei 14.021/20 (DOU, 8/7/2020) sobre medidas de proteção e prevenção de contágio por Covid-19 nos territórios indígenas, que obrigava o governo a fornecer acesso a água potável, materiais de higiene e limpeza, instalação de internet e cestas básicas para as aldeias.
Para a lógica neoliberal, as formas de produção não especificamente capitalistas – de povos e comunidades tradicionais – tenderiam a desaparecer desde que os governos favorecessem o acesso das grandes corporações a espaços territoriais ampliados. Alegavam os economistas liberais que a competição tenderia a eliminar as formas de produção desses povos tradicionais, de uso comum de recursos ou de produção agrícola em pequena escala, não dependentes de insumos químicos e mecânicos.
Entretanto, na perspectiva do liberalismo autoritário que hoje ocupa a máquina governamental, elas não estariam sendo eliminadas, por vias apenas econômicas, conforme o esperado: a disposição e a ação dos povos e comunidades tradicionais, em luta por assegurar as conquistas no reconhecimento de seus direitos territoriais, são vistas por representantes do agronegócio como um problema. Porta-vozes do ruralismo conservador passaram a adotar um discurso abertamente discriminatório: os povos indígenas e tradicionais seriam “improdutivos e indolentes”.
O antiambientalismo assume, assim, a forma de um “racismo ambiental” que, até então, havia se limitado aos bastidores da política. Essa modalidade de ideologia colonial não é de todo nova; ela já foi adotada no passado por agentes engajados na penetração dos interesses da agricultura comercial em áreas ocupadas por povos nativos e caboclos. São inúmeros os documentos que ilustram a leitura que esses agentes faziam quando percebiam as dificuldades de introduzir a agricultura em grande escala em áreas onde vigorava a abundância produzida pelos sujeitos do cultivo da diversidade biológica – pequenos produtores, comunidades ou povos tradicionais. Esses relatórios eram explícitos: a autossuficiência camponesa e de comunidades tradicionais eram seu principal obstáculo. Esses observadores viam no “conforto” e na “fartura” – termos por eles mesmos utilizados – em que viviam os caboclos do sertão o sinal da indisposição que esses grupos demonstravam ao assalariamento na grande fazenda.[8] O contrário, pois, da suposta miséria hoje alardeada por ideólogos anti-indígenas.
Com a eleição de 2018, ganharam força no Brasil as propostas de suspensão do reconhecimento de terras indígenas e quilombolas como parte do projeto mais amplo de desregulação predatória da exploração econômica da Amazônia – a minerária em particular. Fiscalização da grilagem e do desmatamento ilegais são ações vistas pelo ruralismo autoritário como parte de uma suposta “conspiração ambientalista”. Proteção do meio ambiente e reconhecimento de direitos territoriais de povos indígenas e tradicionais são colocados na condição de inimigos do progresso e do bem-estar da nação brasileira.
O antiambientalismo racializado recupera, assim, a ideologia colonial anti-indígena, configurando uma forma abrasileirada de discriminação do tipo da que é há tempos denunciada por movimentos negros e dos direitos civis norte-americanos. Lá, o racismo é denunciado pelo fato de autoridades e empresas penalizarem as comunidades negras de baixa renda, decidindo localizar, em suas áreas de residência, os resíduos danosos da acumulação de riqueza, cujos benefícios são, por sua vez, destinados a brancos e ricos. Aqui, vemos o racismo aplicar-se à condenação de povos indígenas e tradicionais por ocuparem espaços ambientalmente preservados que estão sendo requeridos pelo agronegócio e pela mineração para expandir seus lucros, de forma extensiva, pouco produtiva e, do ponto de vista da área de terras privatizadas disponíveis, desnecessária. Este antiambientalismo racializado converge, assim, com o antiambientalismo liberal e antiregulatório, promovendo uma versão tropicalizada do racismo ambiental do tipo daquele originalmente denunciado por movimentos negros e de justiça ambiental dos Estados Unidos, pretendendo colocar, aqui, o direto à propriedade privada acima de tudo e de todos.
Na V Conferência Geraizeira, realizada em 2018, a fala de um representante de povos e comunidades tradicionais leva-nos a refletir: “Muitos discutem hoje o mundo do bem viver. Nós, povos indígenas e comunidades tradicionais, temos isso nas mãos. O que vale não é o amor ao dinheiro; o que vale somos nós que impedimos que os rios sequem e podemos dormir de janela aberta, discutindo nossa organização social”.[9] O que podemos apreender com os povos indígenas e tradicionais é que seus modos de vida foram muito bem inventados. E que o atual modo de vida dominante, baseado na desigualdade social, de raça e gênero, assim como no consumismo e na obsolescência programada de mercadorias, pode, parodiando a canção de Chico Buarque, ser “desinventado”.[10]
–
Henri Acselrad, professor do IPPUR/UFRJ.
[1] Vimos como a crise das queimadas, estimuladas pelo desmonte das instituições de controle ambiental do governo federal, chegou até a escurecer os céus de São Paulo.
[2] Vinicius Lemos, “’Isso não é gente’: os áudios com ataques a indígenas na pandemia que se tornaram alvos do MPF”, BBC Brasil, 27/7/2020.
[3] Relatório da Comissão de Investigação 154/67, sobre irregularidades no Serviço de Proteção aos Índios, conhecido como Relatório Figueiredo.
[4] Philippe Boistel, “Reputation: un concept à définir”. Communication et organisation, 46 | 2014, 211-224.
[5] Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ocupação de terras públicas na região amazônica, Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Brasília, 2002.
[6] O telejornal do canal France 2 mostrou no dia 23 de julho de 2020 uma matéria sobre a ida do Exército à terra Yanomami no final de junho (“Operação COVID”). Quando a jornalista francesa perguntou porque eles colocaram os indígenas em risco em lugar de retirar os garimpeiros que invadiram aquelas terras (invasões visíveis do alto dos aviões), o ministro da Defesa respondeu: “isso não é assunto do meu ministério”.
[7] Jo Kwong Mitos Sobre Política Ambiental, Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1992.
[8] “Cada família, cada fazenda, tem suas plantações de mandioca, de arroz, de cana-de-açúcar, de milho, de tabaco, de algodão etc. para seu consumo anual; tem também seus moinhos, suas moendas para a cana-de-açúcar e seu alambique para a destilação do álcool, suas criações de cavalos, bois, porcos e galinhas. Ela própria faz seus chapéus, seu sabão, suas moringas, suas selas, suas carroças, em suma, ela se basta (F. Dionant, Le Rio Paraguay et l´état brésilien de Matto Grosso, Bruxelles, 1907, p. 56). “É fácil viver nestas plagas ubertosas porque as raças mestiças tão comuns aqui herdaram os hábitos inertes e descuidados de seus antepassados índios e africanos: apenas alguns têm ambição de erguer-se da vida animal (…); para o Estado são verdadeiro zero, quase nada trazem ao mercado e ainda menos levam para casa; vivem ao deus dará, satisfeitos porque têm provisões para um dia e palhoça que os abrigue.” H. Smith, Do Rio de Janeiro a Cuyaba: notas de um naturalista, 1922, p. 43.
[9] Dayrell, C.A., De Nativos e de caboclos: reconfiguração do poder de representação de comunidades que lutam pelo lugar, Tese Doutoramento, PPGDS, UNIMONTES, Montes Claros, 2019. p. 392
[10] “Você que inventou a tristeza ora tenha a fineza de ´desinventar`”, Chico Buarque, Apesar de Você.
–