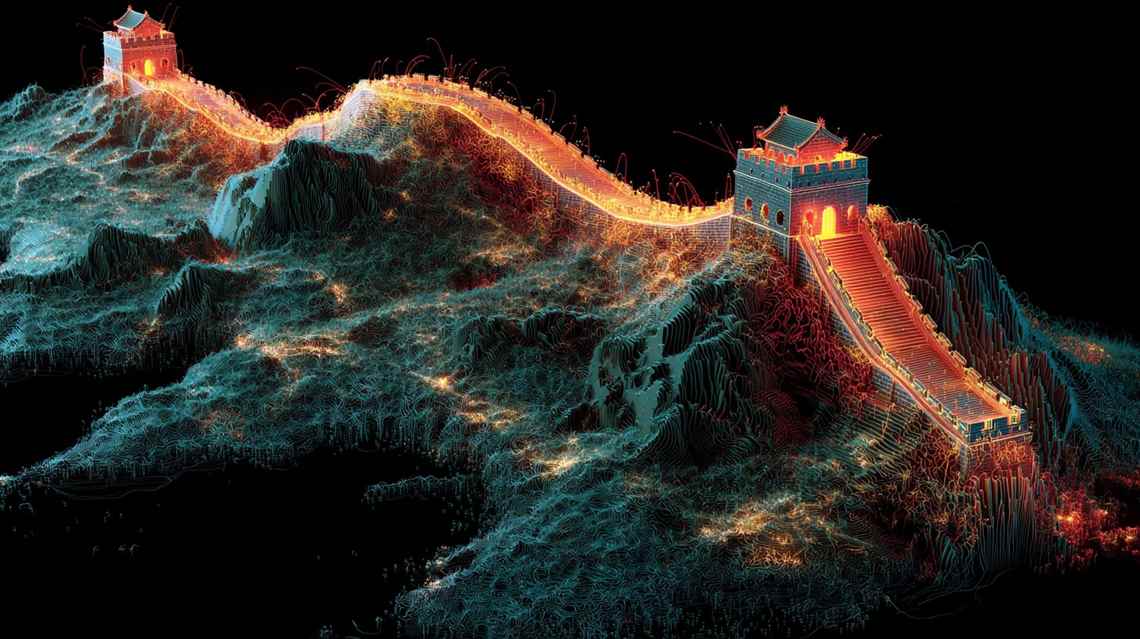No Palavras Insurgentes
Foi o peruano José Carlos Mariátegui o primeiro teórico latino-americano a entender que o racismo estrutural contra os indígenas no seu país estava totalmente vinculado ao fato de que esses eram os donos da terra. Nos anos 1930, ao escrever os seus sete ensaios sobre a realidade peruana, ele coloca claramente que o que estava em jogo era o controle do território. Com a invasão da América em 1492, os europeus se posicionaram como conquistadores e usurparam os territórios, desde aí a luta pela retomada por parte dos povos autóctones tem sido sistemática. Em alguns países é mais evidente por conta do alto índice de população autóctone, como é caso do Peru. É percebendo a centralidade da luta pela terra que Mariátegui vai dizer que não existe uma “questão indígena” propriamente dita, mas sim uma batalha pelo território, e, consequentemente, pelas riquezas que ele esconde ou mostra.
Essa percepção não vale apenas para o Peru. Ela pode ser observada em toda Abya Yala já que cada espaço desse território passou por violentos processos de colonização. Mesmo os países que se colocam no campo dos países centrais – como os Estados Unidos e Canadá – foram cenários de sangrentas batalhas e recorrente tentativa de extermínios das etnias originárias do território. E até hoje, confinadas em reservas, as etnias sobreviventes ainda precisam travar sistemáticos embates para garantirem autonomia e autodeterminação. E justamente porque se recusam a abandonar seus territórios e sua cultura original, são tratados como atrasados, encrenqueiros, entraves ao progresso, o que reforça ainda mais o racismo e a discriminação.
A lógica é semelhante tanto no norte como no sul. Se as comunidades indígenas aceitam os espaços de reserva destinados – ainda que não sejam os originários – e se mantém quietos, podem até ser tolerados. Mas se ousarem se levantar em reivindicações, tanto de território como em direitos, passam a ser demonizadas e sofrem toda a sorte de campanhas desmoralizadoras. Um exemplo nos Estados Unidos é a comunidade Dakota, que luta contra um oleoduto que lhes destrói a água e as terras em Standing Rock. Apesar do apoio de comunidades de toda Abya Yala, essa comunidade Sioux ainda não logrou garantir o direito de decidir sobre seu território. O oleoduto é de interesse nacional, dizem os governantes, e os “índios” são um atrapalho. E lá estão os canos, arrasando e destruindo o modo de vida de quem ainda vive no território tradicional.
No Brasil, apesar do número de almas indígenas ser pequeno em relação à totalidade da população – cerca de 900 mil indígenas declarados – o fato de as mais de 300 etnias ocuparem perto de 12% do território nacional ainda é visto como um excesso: “muita terra pra pouco índio”, dizem. E, da mesma forma, se a comunidade indígena se integra ao modo de produção capitalista, usando o território para culturas de exportação por exemplo, como o soja, aí são aplaudidas e visitadas pelos ministros bolsonaristas, apontadas como exemplo de “índios modernos”. Já as que reivindicam os territórios originais para viverem outra forma de organização são apontadas como anacrônicas, fora da realidade. E contra elas se movimentam todos os meios de comunicação de massa reforçando assim o racismo que foi introduzido com a colonização.
Em Santa Catarina temos três etnias que ainda resistem na luta pelo seu espaço tradicional: os Kaingang, os Laklãnõ Xokleng e os Guarani. Cada uma delas com seus avanços e tropeços vem lutando para manter seu espaço e sua cultura. Não é coisa fácil. Sem a possibilidade de viver plenamente sua cosmovivência eles precisam sair dos territórios para tentar garantir a sobrevivência. É assim que chegam à capital, Florianópolis, em todos os verões, com seus artesanatos. Ao exigirem uma casa de passagem, um espaço digno onde possam descansar, logo são demonizados pela mídia comercial. E se multiplicam as reportagens mostrando os lugares onde eles ficam como espaços de sujeira e degradação, como se fosse da natureza deles e não do lugar inadequado. De novo, o racismo estrutural se manifestando contra aqueles que apenas querem seu espaço legítimo nesse mundo que foi construído sob os cadáveres de seus ancestrais. Outra vez a luta pelo território delimita o peso do ataque. Os indígenas que decidem se transformar em mão de obra do capital são saudados pelos governantes como inteligentes e modernos. Já os que permanecem nos territórios são os entraves ao progresso. De novo, a terra, a propriedade, como questão central.
Se passarmos para a cidade o tema terra volta a dividir as pessoas. Aqueles que conseguem ter a sua casinha ou mesmo pagar em dia o seu aluguel são saudados como cidadãos de bem. Já os que, sem saída, precisam ocupar terras públicas ou vazias, são apresentados como invasores, ladrões, criminosos e tudo de ruim que se pode dizer. O território, no capitalismo, é só para quem tem dinheiro para comprar. Quem não tem, que morra. Essa é lógica.
Só que nesse mundo do capital, o número de pessoas que não têm propriedade é muito maior do que os que têm. Então, o combate está dado.
Nessa terça-feira, em Florianópolis, essa gente desprovida de terra e de direitos estará em luta. Povo que ocupa, povo que resiste, povo que luta, povo que intisica, povo que se nega a aceitar a imposição do capital, povo que se movimenta, povo que clama, povo que também quer morar, que também quer bem-viver. Por que a cidade tem de ser só para quem tem dinheiro ou propriedade? Toda essa gente ameaçada de despejo em plena pandemia por um projeto do prefeito local, que quer aprovar uma lei que permita o despejo sumário, sem necessidade de mandado judicial, estará em marcha. A Marcha pela Vida da Periferia. Virão as famílias que hoje ocupam terra urbana, virão os indígenas que lutam por uma casa de passagem, os que apoiam essas lutas, os que sabem que mesmo diante do perigo do vírus, há que se mover, porque sem isso, a morte vem igual.
Os caminhantes, que se reunirão em frente à Catedral a partir das 14h, são aqueles que sabem muito bem que a tal democracia do “proprietário”, não os inclui e contra isso lutam. Porque a terra não pode ser espaço de especulação. Ela tem de ser espaço de vida e de produção coletiva.
É uma batalha pelas consciências. É uma batalha para destruir a ideologia do capital que normaliza a exclusão, a fome, a miséria, como se não houvesse outro mundo possível.
Há.
E são essas pessoas que estão na construção.
–