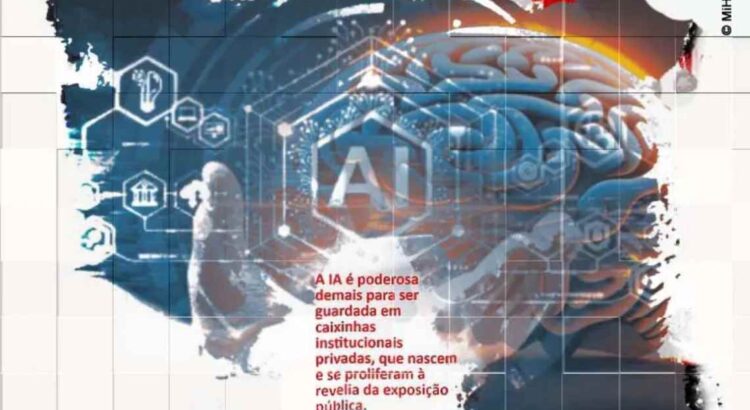Professor analisa alguns desdobramentos geopolíticos e tecnológicos contemporâneos a partir das contribuições teóricas e metodológicas do geógrafo brasileiro Milton Santos
Por: Guilherme Tenher, no IHU
A realidade acelerada e pululada dos acontecimentos demanda avaliações conjunturais capazes de capturar os nexos visíveis e invisíveis da trama complexa de atores locais, nacionais e internacionais envolvidos. Para realizar tal tarefa, recorre-se aos cânones do pensamento vivo, intelectuais com o fôlego teórico e metodológico. Entre outras mentes brilhantes, o baiano Milton Santos (1926-2001) se destaca pela profundidade e extensão de suas contribuições no campo da Geografia e das Humanidades como um todo.
Reconhecido mundialmente pela sua originalidade analítica e crítica afiada ao sistema econômico global, “elaborou uma geografia generosa que, buscando a natureza do espaço, sempre colocou a sociedade, mas, sobretudo, os pobres, em sua formulação para pensar um outro mundo, menos desigual e mais justo. Uma geografia que não se contenta somente em constatar o presente, mas contribuir para a reconstrução social”, aponta Márcio Cataia em entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
Milton Santos também é conhecido pela sua reticência e até aversão à globalização tal como posta, a de estilo neoliberal, chamada por ele de “perversa”. “Esta globalização, tal como existe, é perversa. Esta constatação de Milton Santos coloca o conceito, a globalização, sob o prisma da análise, a perversidade”, explica o pesquisador. Segundo ele, “a questão é que esta integração, no Sul Global é subordinada, fazendo crer que o mundo tem que adotar o modo de vida do Norte; eis aqui uma perversidade”, complementa.
Para o entrevistado, “Milton Santos, alertou para a complexidade científica e informacional do meio técnico. Não escapou a ele a nova razão ou racionalidade do período técnico-científico e informacional, que […] invade os espaços e torna a vida em sociedade cada vez mais dirigida para fins objetivamente estabelecidos para o valor de troca, e não dirigidas a valores sociais solidários”, aponta.
Na entrevista a seguir, Márcio Cataia também comenta o uso de sistemas autômatos, como a inteligência artificial – IA, nas guerras atuais. “A IA está sendo usada agora na guerra de Israel contra o povo palestino em Gaza. Temos notícias de que sistemas ‘inteligentes’ são utilizados para guiar ‘cirurgicamente’ os bombardeios sobre alvos pré-estabelecidos”, assinala. E “não há checagem humana sobre os lugares a serem bombardeados. Ou seja, chegamos ao limite, chegamos a um ponto em que os sistemas ‘inteligentes’ tomam decisões de vida e morte”, ressalta o pesquisador.
Márcio Cataia é licenciado em geografia pela Universidade de Mogi das Cruzes (1993); doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo (2001) com estágio na Université Paris I – Panthéon-Sorbonne (1997/1998) e pós-doutor pela Université Paris III – IHEAL, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (2012-2013). Foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros (Diretoria Executiva Nacional), biênio 2015-2016 e vice-diretor do Instituto de Geociências da Unicamp de 2017 a 2021. Dirige o Instituto de Geociências para o período de 2021 a 2025.
Também é professor livre docente pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, lecionando no Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp. Além disso, lidera o Grupo de Pesquisas em Economia Política do Território, e seus trabalhos atuais envolvem a economia política do território.
Confira a entrevista.
IHU – Milton Santos se torna referência nos estudos geográficos brasileiros e latino-americanos a partir das últimas décadas do século XX e início do século XXI. Quais os principais pontos da teoria e do método miltonianos o senhor destacaria e por que eles ainda são relevantes para a contemporaneidade?
Márcio Cataia – Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade do diálogo, que era para ser feito como uma live discutindo o tema da guerra. Infelizmente, não pude contribuir com o tema em uma transmissão direta, mas podemos conversar nesta forma de entrevista.
Eu destaco o posicionamento político do professor Milton Santos ao propor uma geografia centrada no Brasil, no que hoje chamamos de países do Sul. Ele criticava muito a importação de teorias que serviam ao centro do sistema, mas careciam de uma perspectiva localizada em cada formação socioespacial, daí a força de seu livro “O trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo”, até hoje uma obra de referência.
Em uma perspectiva de método, a obra de Milton Santos faz uma insistente defesa do espaço como objeto de estudo da geografia. Espaço este concebido não como um objeto externo à sociedade, como um reflexo, mas como um actante, que condiciona a ações sociais do mesmo modo que é condiciona por elas. Este é um marco teórico e metodológico fundamental, que hoje vem sendo aprofundado de muitas maneiras. O valor ativo do espaço está presente em suas formulações, que buscavam afastar uma velha dualidade geográfica, aquela da sociedade de um lado e do espaço de outro lado.
Milton Santos elaborou uma geografia generosa que, buscando a natureza do espaço, sempre colocou a sociedade, mas, sobretudo, os pobres, em sua formulação para pensar um outro mundo, menos desigual e mais justo. É uma geografia que não se contenta somente em constatar o presente, mas contribuir para a reconstrução social.
Milton Santos, trajetória e obra. Um intelectual brasileiro atento ao Espaço e ao Tempo do Mundo:
IHU – Milton Santos observava a Geografia como uma espécie de filosofia das técnicas. Como esta concepção nos ajuda a compreender o uso atual da tecnologia, em especial a IA, para fins bélicos e de vigilância?
Márcio Cataia – Para irmos além do empirismo e do pragmatismo é que Milton Santos propôs uma filosofia da geografia, uma filosofia do espaço concreto, mas uma filosofia por dentro da geografia e não por fora. Isto significa dizer que esta filosofia deve ser feita pela geografia para articular a filosofia e o espaço geográfico, uma filosofia da síntese entre tecnoesfera e psicoesfera.
É na humanização do espaço que vamos encontrar a explicação para a geografia como uma filosofia das técnicas. Nós estamos mergulhados, imersos, em um conjunto de meios de toda espécie, e estes meios são técnicos, porque resultado das transformações que impusemos à natureza primeira e das transformações que realizamos no meio já tecnificado.
Milton Santos, alertou para a complexidade científica e informacional do meio técnico. Não escapou a Milton Santos a nova razão ou racionalidade do período técnico-científico e informacional, que por meio das técnicas – a serviço das grandes empresas – invade os espaços e torna a vida em sociedade cada vez mais dirigida para fins objetivamente estabelecidos para o valor de troca, e não dirigidas a valores sociais solidários.
Ruptura civilizacional
De fora da geografia, há um filósofo que está sendo retomado em função desta questão que você colocou aqui, é Jacques Ellul – especialmente sua obra “A técnica e o desafio do século” –, justamente porque se preocupou com a construção do meio técnico e seu uso instrumental. Mais recentemente, e em homenagem a Ellul, Éric Sadin, escreveu um livro intitulado “l’Intelligence artificielle ou L’enjeu du siècle”, no qual defende a tese de que estamos vivendo uma ruptura civilizacional, ocasionada pela IA, que exacerbou o desenvolvimento técnico. Até então, a técnica colocava o Homem a serviço das máquinas, no sentido de operador das máquinas, para que delas pudéssemos tirar o maior proveito, mas com a IA, novos instrumentos permitem que, por meio das máquinas que aprendem, ordens sejam dadas e devam ser cumpridas para o “melhor” – no sentido da eficácia neoliberal – funcionamento da sociedade.
A IA está sendo usado agora na guerra de Israel contra o povo palestino em Gaza. Temos notícias de que sistemas “inteligentes” são utilizados para guiar “cirurgicamente” os bombardeios sobre alvos pré-estabelecidos de supostos militantes de alas militares do Hamas e Jihad Islâmica. Não há checagem humana sobre os lugares a serem bombardeados. Ou seja, chegamos ao limite, chegamos a um ponto em que os sistemas “inteligentes” tomam decisões de vida e morte.
Isto reafirma, cada vez mais, que os estudos em geopolítica e geografia política em particular, mas da geografia em geral, exigem a intervenção de uma filosofia das técnicas para uma melhor compreensão, análise e, quiçá, proposições de transformações sociais para um mundo mais justo.
IHU – A divisão territorial do trabalho é outro elemento central na teoria miltoniana. Como o senhor observa as movimentações do mundo do trabalho, haja vista os recentes acontecimentos geopolíticos globais, como, as tentativas de (re)nacionalização das cadeias produtivas, a retomada da indústria armamentista, discursos nacionalistas / isolacionistas, novas alianças econômicas e a reorganização das forças e tecnologia militares?
Márcio Cataia – O mundo nunca foi tão industrializado, ou em outros termos, estamos no apogeu do período técnico-científico e informacional. A questão relativa à divisão territorial do trabalho é que desde, pelo menos, os anos 1970, estamos vivendo um momento em que a produção pode ser espacialmente difusa. O que os economistas chamam de cadeias produtivas, nós da geografia, que sempre precisamos geografizar a produção, podemos chamar de circuitos espaciais produtivos. Os circuitos englobam desde a produção propriamente dita, passando pela circulação, distribuição e chegando até o consumo final. Este consumo, inclusive, pode ser produtivo, ou seja, é um tipo de consumo que é ao mesmo tempo produtivo, como uma tinta na indústria automotiva, ela é consumida, mas consumida produtivamente.
No início da industrialização, principalmente nos países do Norte, os circuitos produtivos eram regionais, ou seja, as regiões se bastavam em grande medida para a produção de uma mercadoria, de um produto. Claro que existiam certos componentes que vinham de fora da região, mas grosso modo, a produção podia ser regional. Ocorre que o desenvolvimento das forças produtivas, com o avanço das pesquisas da aplicação da ciência no mundo da técnica, no mundo produtivo, fez com que a indústria pudesse ser capitalizada pelo espaço, em lugares onde até então não poderiam estar porque regionalmente não existiam os insumos. As malhas das redes, especialmente dos transportes e das comunicações, se expandiram e permitiram levar insumos e retirar a produção de espaços onde a equação de lucros das empresas indicava sua presença. Junto desta velocidade, digamos assim, técnica, juntamos um intenso processo político de globalização, já que o fim da URSS, autorizou, enfim, o avanço do neoliberalismo em grande parte do mundo. Assim, velocidade técnica e política – com a desregulamentação das políticas regionais e nacionais de produção –, se juntam para propor a abertura das fronteiras para a livre circulação dos capitais.
Este movimento permitiu a existência de circuitos espaciais produtivos globais, como é são os casos do circuito do petróleo e da indústria automobilística. Hoje, é praticamente impossível, que um único país reúna todas as condições técnicas e políticas para a pesquisa, extração, refino do petróleo e consumo dos derivados.
À medida que a globalização neoliberal avançou, os Estados nacionais foram perdendo o controle de parte da produção em favor das empresas e em favor de grandes organismos internacionais, inclusive privados. Mas, este foi o projeto da globalização neoliberal: fortalecer o Estado para garantir, politicamente, fronteiras abertas – com a desregulamentação do mundo do trabalho, instalando situações trabalhistas piores do que no auge no fordismo.
No mundo do Sul, nos países industrializados, como o Brasil, o que era ruim ficou pior e o que anunciava, balbuciava um estado de cidadania, foi precarizado, por exemplo com a pejotização e a uberização do trabalho. Mas, o neoliberalismo não é um projeto somente econômico, ele é uma proposição social, segundo a qual, as pessoas podem e devem ser empreendedoras de si mesmas, negando as ações públicas em favor de políticas sociais praticadas pelo Estado. Esta poderosa psicoesfera se enraizou nas sociedades. Então, paradoxalmente, o Estado precisa ser forte para impor uma política de criação de ricos e não de riqueza – com a expansão da pobreza estrutural –, por que esta, pelo menos, poderia ser distribuída.
Estes movimentos chamados de nacionalistas, eu não tenho dúvida, são o aprofundamento do neoliberalismo. Passamos quatro anos, no governo anterior, implantando políticas claramente neoliberais, destruindo ou desmontando mecanismos de controle produtivos, por exemplo, com a liberação sem paralelo de agrotóxicos e desmatamento, e ao mesmo tempo, acabando com o pouco que sobrou da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho.
Agora, estamos assistindo como é difícil retomar direitos sociais e penalizar desvios. Por isso, de nada adianta nacionalizar certos “trechos” de circuitos espaciais produtivos se o trabalho correspondente for precário. Além disso, a financeirização da economia desloca a acumulação e a valorização do capital para canais ligados ao sistema financeiro, e não por meio dos tradicionais investimentos em atividades produtivas. A astúcia do neoliberalismo está em agir sobre a psicoesfera, e fazer com que as pessoas acreditem que só o mercado pode nos salvar, quando foram os princípios mercantis que nos trouxeram até aqui.
Quanto às novas alianças econômicas e a reorganização das forças e tecnologia militares. Tenho convicção de que um caminho para novas autonomias, com o fortalecimento da soberania popular, são as alianças regionais. No início do século, tivemos a proposta muito clara, com a Unasul (ela é de 2008), de integração Sul Americana, e pensar projetos nacionais no mundo da globalização, passa pelo fortalecimento conjunto das nações. A globalização neoliberal joga com a desunião, joga com a anomia entre as nações, porque o princípio básico é o de que as nações devem competir entre si – princípio maior, diria até que é a Carta Magna da globalização –, e esta concorrência tem levado a nos destruir. E isto está no fundamento da globalização, que é a guerra dos lugares, que muitos analistas chamam de guerra fiscal, mas é muito mais que isso, é uma guerra global entres os lugares pela atração de investimentos: quem oferecer os maiores rendimentos, leva o “investimento”. Mas isto, e existem muitas pesquisas sobre a guerra dos lugares, não tem levado aos resultados esperados, pelo contrário, os investimentos são realizados e, no momento, oportuno, quando outros lugares oferecem melhores condições, os investimentos mudam de lugar.
Quanto às tecnologias militares: aqui há um campo novo de pesquisa que merece a maior atenção, porque os Estados nunca deixaram de fazer a corrida armamentista, ela não está localizada no período da guerra fria, ela continuou e está presente hoje. A novidade é o uso da Inteligência Artificial para a guerra, especialmente com o uso de robôs, de drones (aéreos e submarinos) a partir de centros de inteligência localizados a milhares de quilômetros de distância dos palcos das guerras. E, sobretudo, são tecnologias voltadas para áreas urbanas, cada vez mais aplicadas não a espaços abertos, onde tradicionalmente a guerra era travada, mas em espaços urbanos, nos quais a distinção entre soldados e civis é praticamente impossível.
IHU – A energia e os demais recursos naturais estão cada vez mais no centro dos conflitos intra e internacionais contemporâneos. Quais as tendências, as possibilidades e os os limites produtivos dos setores primários na América Latina, região caracterizada pela sua biodiversidade e histórica extração de commodities?
Márcio Cataia – O controle de regiões ou lugares ricos em recursos que movem as máquinas de guerra – como o petróleo: não existe guerra se não existir a energia para mover tanques, aviões, etc. – sempre esteve o centro da geopolítica. Isto não é novo. O que é novo, é o fato de que neste período técnico-científico e informacional, para ser geopolítico, é preciso saber geografia, ou ser geógrafo ou geógrafa. Parece uma brincadeira com as palavras, mas não é.
Os conflitos pela posse dos recursos não são como no auge do imperialismo – ainda existem os impérios –, quando as guerras pelo controle comercial das mercadorias e rotas terrestres e marítimas determinavam os custos e os preços decorrentes. Com a globalização neoliberal, a presença da financeirização e das novas tecnologias informacionais muda “o lugar” dos recursos e os reposiciona na divisão internacional do trabalho.
Veja o dilema das terras raras e do lítio. Estes recursos passaram a representar fontes fundamentais para a chamada “transição energética” em direção a uma economia de baixo carbono. Não vou polemizar aqui sobre a transição (um termo, em minha forma de entender, ideológico), mas a simples posse destes recursos – como é o caso do triângulo do Lítio aqui na América do Sul –, não os torna fontes de energia. Antes, é preciso muito investimento em ciência e tecnologia para se chegar ao produto que será efetivamente usado nos equipamentos.
O Brasil não domina todo o circuito espacial produtivo das terras raras, ou seja, podemos extrair – o que já fazemos – mas a fonte é exportada e volta na forma de produto a ser usado. Ou seja, a revolução científica e tecnológica, sob a égide da globalização, pelo menos desde os anos 1980, criou circuitos espaciais produtivos que são globais. As etapas produtivas, desde a extração até a confecção do produto, são fragmentadas internacionalmente. Dificilmente um único país domina todo circuito, como é a exceção chinesa. Neste início de século a China vem dominando a mineração de terras raras, usadas em turbinas eólicas e equipamentos militares, tanto quanto em veículos elétricos, por meio dos ímãs de terras raras.
Mas, nesta aceleração contemporânea, quando tudo muda muito rapidamente, em quantidade e em qualidade, avanços tecnológicos podem se tornar obsoletos em tempo muito curto. Os computadores usavam terras raras em baterias e discos rígidos, mas esta tecnologia foi substituída por memórias flash, usadas também em câmeras digitais, pendrives, cartões SD e smartphones. Hoje o Brasil importa 100% dos ímãs que consome, apesar de possuir as terras raras. Repete-se aqui a sina da velha divisão internacional do trabalho, da exportação de produtos primários para a importação de produtos elaborados. Ou seja, os circuitos espaciais produtivos, ditos os mais modernos, aprofundam a distância entre o Sul e o Norte global. Mas, há uma questão inquietante: e se produzíssemos ímãs no Brasil? Para quê serviriam? Para a indústria bélica, para a indústria não nacionalizada de computadores, smartphones e periféricos? De fato, falta um projeto claro sobre os novos usos do território brasileiro.
Neste caso, a questão central, em minha forma de entender, está no fato de os Estados aceitarem a globalização e competirem entre si. Quando falamos do triângulo do lítio, estamos falando de Chile, Argentina e Bolívia que, idealmente, já deveriam ter formado uma associação para pensar, para propor políticas que lhes deem uma outra posição na divisão internacional do trabalho, que não aquela de exportadores de produtos básicos e importadores de manufaturados, como na velha divisão internacional do trabalho, porque isto é dependência pura. Se o projeto é usar os recursos, e para isso é preciso antes de tudo, de democracia, de consultas populares, então é preciso pensar seus circuitos espaciais produtivos e o lugar que caberá a cada um neste circuito que, claro, será global.
Os três países possuem importantes instituições de pesquisa, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires é a mais importante Universidade Latino-americana, portanto, nós possuímos mecanismos, instituições, capazes de projetar, de pensar e de operacionalizar políticas e produtos. Falta pensar democraticamente projetos de uso do território. O território usado tem que estar no centro dos debates; temos que evitar, a todo custo, que o território seja abusado por um mercado globalizado sedento por dinheiro e não pela vida digna das pessoas.
O Brasil e a globalização perversa. Agronegócio, urbanização corporativa e pobreza estrutural:
IHU – Qual a importância de políticas territoriais na garantia de condições trabalhistas e ecológicas dignas para estes lugares?
Márcio Cataia – Este é um velho dilema. Sartre dizia que as colônias entraram no mundo para resolver a escassez das metrópoles, em uma divisão internacional do trabalho que sempre priorizou os ricos e não a geração de riqueza a ser distribuída. Tomamos de Jean Gottmann a ideia de que há um par dialético que precisa ser considerado nesta análise, porque trata-se de valorizar o território como recurso em detrimento do território como abrigo.
O primeiro é referido às piores condições para a exploração dos recursos, minerais, vegetais ou animais. E é preciso destacar que, quando as condições ecológicas que você menciona se mostram dramáticas, com certeza a situação da classe trabalhadora antecedeu e acompanhou a exploração destrutiva do meio ambiente. A extração dos recursos que destrói tudo – Achille Mbembe chega a se referir a uma “criativa destruição” – é também a extração da vida digna. E depois que tudo é extraído, o capital vai embora, as empresas vão embora, em busca de novos lugares e recursos. Fica o abandono.
A defesa das condições ecológicas e das condições de vida dignas tem relação direta com pensar e encontrar meios para construir politicamente o território como abrigo. Este território é referido a um uso cuja razão não está no mercado capitalista, mas nas possibilidades de coexistência exercidas autonomamente pelos lugares. Cada vez mais, hoje, o neoliberalismo busca impor os direitos do mercado, e um território voltado para a vida, um território usado como meio de vida, é outra coisa, é a valorização da política, da livre deliberação nos lugares, pois cada lugar é um mundo próprio, particular, e precisa ser considerado, respeitado.
As pessoas sabem, as coletividades têm clareza, de que não podem destruir aquilo do qual vivem, por isso o aprofundamento da democracia, com maior participação popular, permitirá compreender em cada lugar o que é o comum a ser defendido. Ao interesse da coisa pública, da res pública, devemos juntar, como diria Pierre Dardot e Christian Laval, o interesse pelo que é comum, a coisa comum (res communes), que pode ser uma mata, um rio, um quarteirão urbano, enfim, a política não pode ser pensada sem o espaço, sem o território como meio de vida.
As políticas territoriais, quando existem, na grande maioria dos casos – apesar dos justos esforços de muitas autoridades – estão obedecendo ao princípio neoliberal da defesa de um Estado forte para o direito privado. Nós precisamos inverter esta equação, na defesa do direito público e comum.
IHU – O papel dos valores, das ideias e das crenças é destacado na teoria miltoniana por meio do conceito de psicoesfera. O que ela significa exatamente e como ela interage com o seu par dialético, a “tecnosfera”? O que distingue estas esferas do esquema “infraestrutura-superestrutura” marxiano?
Márcio Cataia – Nós usamos muito em geografia o conceito de infraestrutura, porque nos interessa sempre o meio ambiente construído, nos interessa sempre o que chamamos de configuração territorial, formada pela primeira e segunda naturezas – um conceito marxiano –, ou seja, são as próteses que os projetos sociais implantam na superfície terrestre. As cidades e os meios de circulação, sobretudo, terrestres, são os melhores exemplos. Primeiro os construímos, e depois eles condicionam as ações que sobre eles se dão.
Neste sentido, tecnoesfera e psicoesfera necessariamente dialogam, são conceitos redutíveis um ao outro. E este diálogo é um recurso conceitual para designar que primeiro fazemos a nossa casa, primeiro construímos o que vamos habitar, depois a casa, a moradia, condiciona nosso modo de vida e transforma nosso pensamento. Ou seja, o espaço construído possui um valor ativo sobre a sociedade, tem a capacidade, ou seria melhor dizer, a potência, de condicionar as ações sociais.
A tecnosfera não é um reflexo, uma tradução ou uma transcrição, um desenho que as sociedades realizam e, depois de desenhada, temos somente uma matéria inerte, uma massa de um grande feixe de eventos anteriormente coerentes, e que existem apenas à espera de sua ruína.
Jane Bennett, filósofa norte-americana, insiste no que ela chama de matéria vibrante, que excede os significados humanos encarnados nos objetos. Ela não abandona a perspectiva do materialismo histórico, mas avança em uma filosofia materialista crítica ao refletir – como muitos outros fazem, especialmente herdeiros da filosofia de Bruno Latour – sobre a vitalidade condicionante da matéria, ou o poder ativo que emana das coisas, em uma coexistência, em mútua afetação entre entidades biológicas, tecnológicas, geológicas, climáticas, enfim, entre humanos e não humanos.
Como disse Milton Santos, entre os corpos e o território realiza-se uma anastomose, uma palavra da bioenergia para designar combinações e interdependências entre partes de uma totalidade.
Cada uma destas entidades, tal como nós da geografia interpretamos, constitui uma esfera. Primeiro as esferas naturais (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera), depois, com a ação humana, a tecnoesfera e a psicoesfera. Sem o dizer, sem se referir ao termo, Jane Bennett faz uma filosofia das técnicas. E entendo que seu trabalho é bastante geográfico.
Quanto ao par dialético infraestrutura/superestrutura, creio que esteja muito presente, nós não nos afastamos desta ideia da interpenetração dos opostos, porque é um princípio de método, e como princípio está presente. Assim, a presença é de método, mas a explicitação teórica, que busca dar voz, que objetiva visibilizar o espaço geográfico, é particular à teoria proposta. A metáfora proposta por Marx para compreender os dois termos, é aquela de um edifício para explicar a dinâmica social: a base do edifício ou infraestrutura seria representada na sociedade pelo conjunto das relações de produção, e sobre esta estrutura se ergueria uma superestrutura, que corresponderia às mais diversas formas de consciência social.
Neste sentido, o que na teoria marxista entrou como metáfora, para nós da geografia é ontológico, ou seja, é o próprio ser da geografia, já que estamos envolvidos objetivamente com prédios, casas, edifícios, campos plantados, florestas. A geografia dialoga com o mundo científico trazendo de outros campos, de outras disciplinas, termos, inclusive conceitos, mas todos eles, quanto entram no sistema teórico precisam ser interpretados para fazerem parte coerentemente em nosso sistema de conceitos. Podemos e falamos de infraestrutura, mas temos que especificar se estamos analisando a litosfera, a hidrosfera, ou se estamos analisando a tecnoesfera, aliás, como fez Marx, ao distinguir entre primeira e segunda naturezas.
Nossa questão, está em como traduzir, transferir categorias gerais, universais, em situações concretas, geográficas, que tem dinâmica, que têm vida e se transformam. Como afirmou Milton Santos, estas categorias ganham dimensão explicativa quando aplicadas ao conhecimento específico do uso do território. Não basta alinhar proposições gerais da economia política em geral, pois temos que partir do espaço geográfico e a ele voltar, segundo o prisma reflexivo interno à disciplina, assim construindo a teoria do espaço humanizado, que seria um teoria menor embutida em uma teoria maior, que é a teoria social crítica.
Milton Santos. Desigualdades, (contra)racionalidades e o papel revolucionário dos pobres:
IHU – O que declarações como “a operação especial russa na Ucrânia é uma ‘guerra santa’ que visa ‘proteger o mundo do ataque do globalismo e da vitória do Ocidente, que caiu no satanismo’”, proferida no Conselho Mundial do Povo Russo, ou ações como a “ocupação” de Gaza por Israel, falam sobre o peso das ideologias nos conflitos contemporâneos?
Márcio Cataia – Sem dúvida, as ideologias explicam muito, mas creio que nestes casos, tanto na guerra da Ucrânia, quanto na invasão de Gaza com o massacre do povo palestino, o que se destaca é a razão de Estado. Os dois governos, russo e israelense, alegam claramente que estão defendendo seus Estados, seus territórios, seus Estados territoriais.
Não devemos esquecer que na gênese do Estado territorial, com os Tratados de Westphália, dos anos de 1647-1648, representaram – junto com a revolução científica de Galileu Galilei que fundou uma episteme, uma racionalidade científica – está a construção de uma racionalidade para o Estado. Ela vai se distinguir das leis imutáveis da natureza e da vontade de Deus sobre seu rebanho, erigindo os governos como os lugares da confecção de leis, feitas segundo circunstâncias políticas mutáveis, para defender o Estado. Que é este Estado territorial? O Estado é um composto de instituições agregadas, porque inclusive muitas delas nasceram antes do Estado territorial, como o fisco e o sistema jurídico. Destas instituições que compõem a massa do Estado, destacam-se as forças armadas.
O termo territorial do Estado, é o lugar circundado por fronteiras no interior das quais vigora um dado regime jurídico-político, por isso, este “territorial” é entendido pelo Estado como o seu território, lhe pertence. As forças armadas dedicadas à “proteção” do território (que normalmente implica em expansão de fronteiras) não são nada ideológicas, elas são estratégica e taticamente preparadas para serem racionais, brutais.
Não estou fazendo tábula rasa dos eventos que precederam a guerra da Ucrânia – especialmente a decisão de aderir à OTAN –, tampouco do ato terrorista do Hamas em Israel, que abriu o caminho para a invasão brutal de Gaza. Existe uma cronologia de eventos que levam até as guerras. O que quero destacar é que a defesa de um território, a defesa do Estado ou das instituições do Estado, não são o motivo último a mover um Estado em uma guerra, sua razão, sua ratio. Quando a existência do Estado é colocada em questão, então é a hora da guerra. Os dois Estados, russo e israelense, afirmam terem sido atacados, e por isso precisam se defender. Defender sua própria existência: aqui está a questão.
Friedrich Ratzel, o fundador teórico da geografia política (em fins do século XIX), dizia que os Estados nascem, crescem e podem fenecer, por isso, precisam competir para se manterem fortes. Esta é uma visão que já aparece entre os teóricos do Estado territorial no século XVII, aquela de que os Estados concorrem entre si, e esta concorrência é salutar para a vida política das nações. Ou seja, os Estados territoriais não apenas se defendem de agressões, mas concorrem para ocupar melhores posições, posições mais vantajosas e mais fortes, para a expansão política e econômica desejada ou planejada. Por isso, os Estados nunca deixam de se armar, de expandir suas forças armadas, sempre em busca de novos equilíbrios, sempre precários, sempre delicados.
Quanto às ideologias, em minha forma de entender, cumprem um papel importantíssimo, que é aquele de desviar a atenção, de colocar a atenção em outro lugar, de tirar o foco da questão central é que a defesa da razão de Estado. A invasão do Iraque em 2003, não podemos esquecer, teve como justificativa a existência de armas de destruição em massa, que colocavam em perigo as nações livres e democráticas do Ocidente. Depois, descobrimos que não havia nenhuma arma de destruição. Mas, era preciso criar uma propaganda – não existe guerra sem propaganda –, era preciso criar uma psicoesfera, encontrar um inimigo.
Geopolítica é, sobretudo, a arte de criar, inventar, inimigos. Certa imprensa denomina alguns Estados de “delinquentes”, enquanto que outros fariam parte de um “eixo do mal”. As denominações são sempre no sentido de criar uma tensão permanente, um estado latente de conflito, que justificaria em qualquer momento a tomada de decisões brutais, inclusive contra “inimigos” internos, normalmente representados por forças insurgentes, vozes dissonantes. Estas vozes sempre são acusadas de praticar atos contra a família, a cultura nacional – este perigo vem sempre dos imigrantes –, as normas, as leis, colocando a nação em perigo. Nestes casos – ideológicos –, é a hora do fortalecimento do Estado, de fortalecimento da razão de Estado. A ideologia é um instrumento de desvio do foco, em uma exotropia política, a razão do Estado é o centro.
IHU – Qual a importância de repensarmos ou aprofundarmos a análise dos tempos e temporalidades (unicidade e diversidade) na geografia a fim de compreender os desafios sociais, econômicos e climáticos do presente?
Márcio Cataia – Cada período, cada época, possui seu espaço correspondente. E é neste entroncamento, neste carrefour entre o tempo presente e o espaço que se configura a geografia.
IHU – O que Milton Santos propunha ao escrever “Por uma outra globalização”? Como apreender a atual conjuntura nacional e internacional a partir deste texto?
Márcio Cataia – Esta globalização, tal como existe, é perversa. Esta constatação de Milton Santos coloca o conceito, a globalização, sob o prisma da análise, a perversidade.
A globalização ganhou concretude, uma universalidade empírica, a partir daquilo que o Professor chamou de unicidades, quando pela primeira vez na história, vivemos uma única história universal com a ascensão das diversas temporalidades dos lugares. Quer dizer, todos os atores, todos os agentes entram na cena política e têm que ser considerados. A ubiquidade das técnicas da informação, autorizou uma das unicidades, que é a “convergência dos momentos”, ou seja, a instantaneidade da informação, que garantiu a integração – em muitos lugares, subordinada – do lugar com o mundo em tempo real. A questão é que esta integração, no Sul Global é subordinada, fazendo crer que o mundo tem que adotar o modo de vida do Norte; eis aqui uma perversidade.
Outra unicidade é a técnica. Ela refere-se à capacidade de imposição de técnicas produtivas, mas também de serviços, que vão invadindo o mundo todo segundo parâmetros do centro do sistema. Cada vez mais, temos menos técnicas à nossa disposição, o que implica em importar modelos, normas, e mesmo produtos, mercadorias, para o exercício da vida cotidiana. Ora, quanto mais extrovertida é a técnica, mas dependente são os lugares, as regiões, os países, que têm que pagar pelo uso. Há aqui outra perversidade.
E, claro, esta análise não seria completa, sem a consideração da unicidade do motor, a chamada mais-valia global, quando o lucro se colocou como o senhor supremo de tudo que fazemos. Quando os valores de troca se sobrepõem aos valores de uso, e daqui decorrem as maiores brutalidades, com todos os tipos de destruições, não só da vida, como também dos espaços, das ecologias.
Então, como enfrentar esta globalização a partir do Sul Global? Não é nada simples, evidentemente, mas há uma tarefa central, uma busca, que é a de usar estas unicidades para por fim, para colocar termo nas perversidades, ou seja, subverter o uso da técnica, destinada às perversidades. Temos que dar uma outra finalidade à técnica, já que o senhor da técnica não é a técnica autônoma da inteligência artificial ou das máquinas que “aprendem”, como querem nos fazer crer hoje, mas da livre vontade popular. Aos poucos, aqui e acolá, as pesquisas vêm demonstrando que as insurgências, as insatisfações e outros usos para as mesmas técnicas, são possíveis e estão acontecendo. Porque as decisões sobre o que os algoritmos devem fazer é política, sempre é uma decisão que parte do princípio da mais-valia das empresas.
Neste sentido, a conjuntura internacional atual é favorável, quando pensamos nos grandes atores globais? Eu creio que não. Estamos vivendo um momento de expansão e manutenção das forças da extrema direita na Europa, nos EUA, aqui no Brasil e na Argentina, dramaticamente. O período que estamos vivendo, é uma crise, e neste sentido, tudo está em disputa. Estas disputas não são só técnicas, elas são também políticas, e é neste campo político que reside um lugar de luta por uma outra globalização.
Agora mesmo, com o terrível alagamento da cidade de Porto Alegre, vimos que inclusive canais de televisão conservadores, tiveram que admitir que os governos abraçaram as mais modernas técnicas de produção, para aumentar a produtividade e expandir ao extremo os lucros, em detrimento dos cuidados que o território exige. Há uma consciência, que vem aos poucos, de que este modelo está nos levando ao esgotamento como sociedade. Então, outra globalização, significa deslocar o foco do dinheiro em estado puro, para as pessoas, para a sociedade. Querem nos fazer crer que com aumentos de ganhos, o tal do aumento da produtividade, todos temos a ganhar, o que é uma falácia. Pensar o território usado, quer dizer, pensar um espaço em que todos possam conviver, coexistir, humanos e não humanos.
IHU – Qual a definição de lugar na teoria miltoniana? Por que o lugar é dialeticamente necessário para revisarmos os conceitos e práticas atuais relacionadas à globalização?
Márcio Cataia – O território é uma categoria central para a geografia, assim como para outras disciplinas. Para Milton Santos, ele não é interpretado apenas como uma categoria do poder do Estado, uma circunscrição onde vigora o poder do Estado e é delimitada por fronteiras internacionalmente reconhecidas. Esta categoria ainda é fundamental hoje (falamos da guerra um pouco antes), mas não basta interpretar o poder do Estado sem considerar o mercado e sua capacidade de produzir divisões territoriais e jurídicas, com as propriedades privadas a desenhar o espaço de uma nação. Assim, interessa juntar à teoria miltoniana, o que Pierre Dardot e Christian Laval repetem à exaustão, que o capitalismo é um sistema econômico-jurídico. Compreender o território pela mão do Estado, é compreender um poder, mas o Estado usa o Direito Público na defesa do Direito Privado, por isso o conceito de “uso” está no centro da compreensão do que seja o território.
Pierre Dardot lembra a necessária distinção que se deve fazer entre o uso e a propriedade. O direito de propriedade marcou historicamente a distinção entre o público e o privado, colocando de um lado a propriedade do Estado e de outro a propriedade privada, contudo, manteve a simetria lógica entre ambos, pois mantém-se a exclusividade, por um lado sobre o monopólio sobre um território (a soberania) e por outro lado uma “soberania sobre a coisas” apropriadas. Mas, por que privilegiar a propriedade e não uso? Esta pergunta remete a questionar por que nossas lentes são focadas a partir do poder do Estado e do mercado, e não de todos os outros usos que não são hegemônicos. Segundo Dardot, “o direito moderno considerou o uso como uma forma inferior e degradada do direito de propriedade, estabelecendo a hierarquia de três níveis bastante distintos: o uso simples (usus), o usufruto (usufructus) e, enfim, o direito do uso e abuso (abusos), que representa a forma completa dos direitos de propriedade”.
Não é sem interesse lembrar da etimologia da palavra território, proveniente do latim territorium, agrega o termo terra, que designa uma circunscrição ou um pedaço do espaço total onde vivem as pessoas, e por outro lado, torium designa um lugar. Como a palavra consultório designa o lugar onde há consultas, ou laboratório, lugar onde se trabalha. Território é o lugar onde se vive, é uma palavra que situa os sujeitos sociais, como já lembrou Hassan Zaoual ao se referir ao homo situs. É por isso que o território é usado nos lugares.
O lugar se define de dentro para fora, diferente da localidade que pode ser definida de fora para dentro, como um endereço em um catálogo de correio. O lugar não pode ser atingido por um zoom (um zoom pertence a uma esfera abstrata) ao mudarmos a escala da imagem no monitor de um computador, porque as mediações sociais impedem, ou seja, o lugar não é uma imagem captada pelo google earth. O lugar possui sua própria temporalidade no tempo do mundo, possui sua própria personalidade que resulta de uma história que não tem paralelo em qualquer outro lugar, porque as pessoas são outras, o espaço é outro e as tramas entre as pessoas e destas com o espaço são outras.
Há muitas lições no livro de Davi Kopenawa e Bruce Albert, A Queda do Céu, mas uma em particular está colocada com destaque para nós da geografia, que é o conceito de lugar. Tão importante, que o prefácio escrito por Eduardo Viveiros de Castro, interpreta que o livro apresenta uma teoria global sobre o lugar. Especialmente porque o sentido etimológico da palavra indígena significa “natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe é própria”.
Neste sentido, a terra, o território indígena, não é extrínseco como um objeto apropriável, mas a “propriedade” é um atributo imanente ao sujeito. O lugar (indígena) é ser/estar no mundo como casa, como abrigo, e não como recurso, como depósitos de recursos explorados ou a serem esgotados. Neste ponto, encontramos uma aproximação muito grande, um diálogo da antropologia (simétrica) de Castro e Albert com a geografia de Milton Santos, pois ele enfatiza que o uso do território se dá nos lugares, em uma tensão permanente entre o abrigo do povo e o recurso do capital (recurso do “povo da mercadoria” como diz Davi Kopenawa). O povo da mercadoria, na teoria-práxis de Kopenawa, é o termo que designa a civilização capitalista.
O lugar é o mundo vivido a partir daqui, em uma práxis. O lugar é o uso do território comum.
IHU – Deseja acrescentar algo?
Márcio Cataia – Desejo agradecer a oportunidade do diálogo.
—
Ilustração: Mihai Cauli