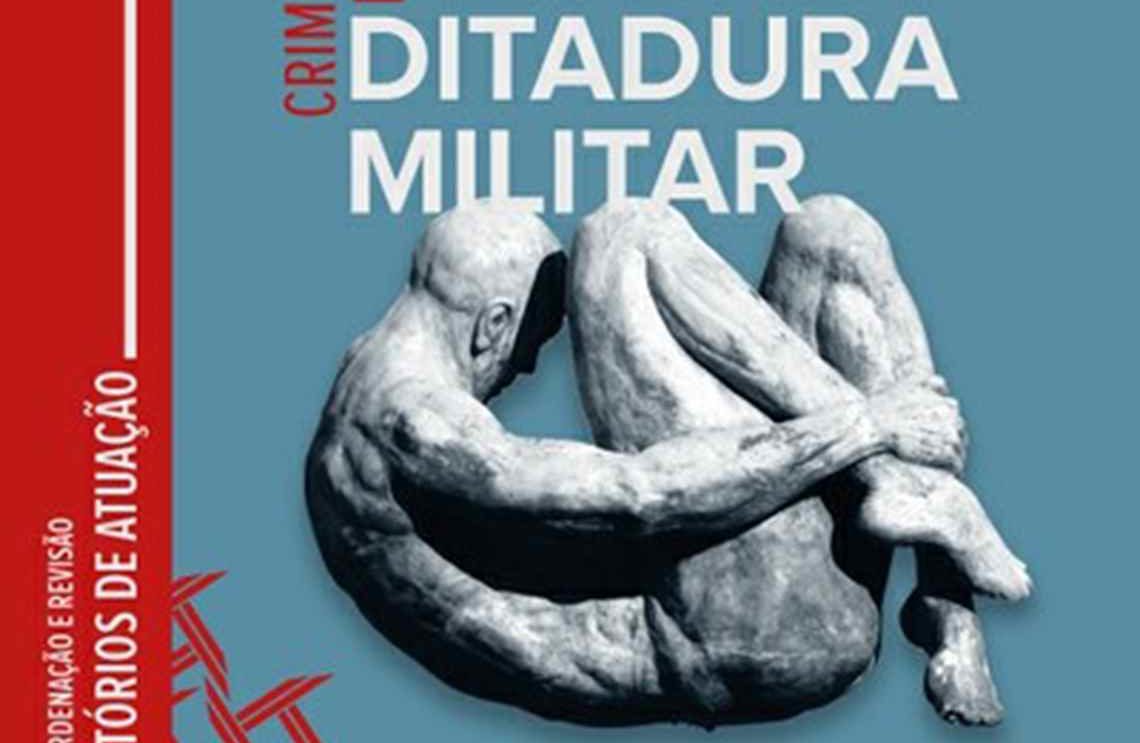Em entrevista, historiador Lucas Pedretti destrincha atuação do presidente e grupos ligados às Forças Armadas para consolidar visão positiva sobre a ditadura militar, possivelmente usando a estrutura do Estado.
Por João Soares, na DW
O presidente Jair Bolsonaro se envolveu ativamente, nas últimas duas semanas, com uma agenda que dominou sua atuação como parlamentar durante 30 anos: a promoção de uma memória apologética da ditadura militar.
Após fazer declarações irônicas sobre as circunstâncias em que o pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi assassinado, o presidente substituiu, por militares e membros do PSL, quatro dos sete membros da Comissão de Mortos e Desaparecidos políticos, incluindo a presidente Eugenia Gonzaga. Na última quinta-feira (08/08), Bolsonaro recebeu no Planalto a viúva do torturador condenado coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que classificou como “herói nacional”.
Para o historiador Lucas Pedretti, ex-integrante da Comissão Estadual da Verdade do Rio e pesquisador das políticas de reparação pós-ditadura no Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp/Uerj), fica claro que o presidente utilizará a estrutura criada pela Justiça de transição para cristalizar uma visão positiva do regime.
“Bolsonaro sabe que falar do passado não tem a ver com consolidar uma versão sobre o que aconteceu, mas com quais valores a gente quer afirmar no presente e qual futuro construir. Ele quer construir uma sociedade que aceita a tortura, o extermínio, a violência de Estado e, para isso, sabe a importância de negar que tenha existido escravidão e a gente tenha vivido uma ditadura brutal”, avalia.
DW: De que forma lê as ofensivas do presidente Bolsonaro sobre os mecanismos de reparação dos crimes de Estado cometidos pela ditadura militar? Qual seria a finalidade desse movimento?
Lucas Pedretti: Desde que Michel Temer assumiu a Presidência, em 2016, assistimos a um progressivo esvaziamento dessas políticas públicas. Mas, a partir de 2019, no governo Bolsonaro, não se trata mais de um desmonte das políticas de memória. É muito pior do que isso.
Está muito claro que o objetivo do presidente é utilizar a institucionalidade construída a partir da luta dos movimentos sociais, organizações de direitos humanos, familiares de mortos e desaparecidos e presos políticos para promover uma memória de apologia à ditadura, tortura e graves violações de direitos humanos, além de desqualificar os que lutaram para construir essas políticas.
O convite para a viúva do torturador Brilhante Ustra ir ao Planalto, tal como o tratamento como “herói nacional”, são expressões claras de que esse tipo de homenagem pública vai se tornar cada vez mais comum. O Bolsonaro vai assumir, com muita força e centralidade na sua atuação como presidente, uma militância pela promoção da memória apologética à ditadura e à tortura. Não é que ele não ligue para o tema: vai se engajar profundamente em promover essa memória.
A disputa da memória sobre o que foi o golpe de 1964 e a ditadura é um dos elementos centrais do seu governo. Quem conhecia sua trajetória não podia ter dúvidas de que este seria o tom do seu governo. Ele construiu sua carreira política em torno da desqualificação dessas políticas públicas de memória, reparação, e em torno da promoção de uma memória apologética da ditadura.
Em seu doutorado, você se dedica a estudar a reação das Forças Armadas à demanda de políticas públicas de reparação por vítimas do período e seus familiares. Que tendências se observam nesses últimos 30 anos?
Desde que tiveram início as primeiras mobilizações de denúncias das graves violações de direitos humanos cometidas pela ditadura, os próprios militares começaram a se mobilizar, principalmente os que estavam nos órgãos da estrutura repressiva, para construir uma contranarrativa.
É nesse período que se localiza, em vários documentos das agências de informação e repressão, a caracterização das denúncias de tortura e violações como atos de revanchismo. É de dentro dos órgãos repressivos que se constrói essa narrativa, a qual dá origem, posteriormente, a uma série de livros e publicações, como o Projeto ORVIL; A verdade sufocada, do Ustra; Brasil sempre, de um militar do DOI-Codi do Rio Grande do Sul, obras que tentam consolidar essa visão dos militares sobre o que foi o golpe de 64 e a ditadura que se seguiu.
A cada pequeno passo que se dava em relação às políticas de memória, reparação e verdade, esses grupos reagiam, seja organizados nos clubes militares, o que se mantém, mas também em outras organizações, como o Grupo Terrorismo Nunca Mais, influenciando também os militares da ativa. Eles sempre possuíram no Congresso Nacional uma voz pronta para fazer a defesa dos seus interesses e da história de apologia da ditadura e tortura, que era o então deputado federal Jair Bolsonaro.
Poderia citar exemplos dessa atuação do Bolsonaro no Congresso?
Quando a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos estava prestes a ser criada, em 1995, pela Lei 9.140, ele tenta, com outros deputados, emendar a lei para conferir indenizações a familiares de supostas vítimas do que ele chamava de terrorismo. Ele vota contra a lei e a ataca, da tribuna.
No contexto da criação da Comissão de Anistia, em 2002, desenvolve-se um segundo discurso muito forte, ao lado da ideia de revanchismo, que fomenta as críticas às políticas de memória e reparação pela ideia da “bolsa ditadura”, uma completa desqualificação das indenizações pagas a título de reparação a quem foi perseguido pela ditadura.
Quando surge o debate sobre a Comissão Nacional da Verdade (CNV), ele se coloca como a principal figura do Congresso Nacional contrária ao projeto de lei, intensificando a defesa dos interesses e perspectivas desses militares envolvidos na repressão e violações de direitos humanos da ditadura.
Para se ter uma ideia, o deputado que mais fez discursos sobre a comissão foi o Bolsonaro. É muito significativo o lugar que essa pauta ocupa na trajetória política dele. Por isso, não dá para esperar nenhuma postura diferente dele na Presidência da República. Ele anunciou, ao longo de toda a sua vida política, o que faria se tivesse poder. Agora, está implementando exatamente isso.
O grupo político de Bolsonaro insiste na tese de que os “dois lados” cometeram excessos. Como vê essa afirmação?
O golpe de 64 é dado para a implementação de um projeto econômico e social no país, cujo fundamento central era a implementação de uma série de políticas voltadas para garantir o benefício das elites econômicas, por meio do aprofundamento das desigualdades e aumento da exclusão. Este é o sentido fundamental da ditadura. A ideia de que foi um contragolpe, porque havia uma ameaça comunista, é a retórica mobilizada para conferir alguma legitimidade ao golpe de Estado e ao regime, mas que não encontra qualquer lastro na realidade. João Goulart não era um comunista, e tampouco ia implementar um regime de viés socialista no país.
Pensando no momento posterior, com a ditadura já implantada no país, é bom lembrar que o direito a resistir à tirania de Estado é consagrado nas teorias políticas de caráter liberal, inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É nessa chave que precisamos olhar os movimentos de resistência à ditadura. O que houve foi a estruturação de um aparato estatal extremamente enraizado e capilarizado na sociedade, voltado para reprimir quaisquer manifestações de resistência ao regime ou contrariedade aos ditames dos militares, por meio de graves violações de direitos humanos. É impossível conceber a repressão do Estado e as forças de resistência, ainda que na forma de guerrilha armada, como dois lados simétricos.
Quando o Estado é quem promove a violência e violações de direitos humanos, estamos falando de algo muito mais grave, pois supostamente o Estado deveria garantir as liberdades e a proteção, e não promover a tortura, execuções e desaparecimentos, como políticas de Estado. É disso que se trata: um regime que tem como política de Estado, emanada diretamente dos generais-ditadores, que as execuções sumárias, torturas e desaparecimentos forçados fossem mobilizados para garantir o sufocamento da oposição e implementação do projeto ditatorial.
Por fim, aqueles que o regime acusava de terrorismo, de terem participado de ações armadas, foram presos, julgados na forma das leis vigentes e, na maioria das vezes, punidos com medidas que não eram previstas nem mesmo na lei da ditadura, como a tortura, execução sumária e o desaparecimento forçado. Os militantes de esquerda já foram processados, julgados e punidos. O que a lei de Anistia de 79 garantiu é que os torturadores, que violaram os direitos humanos em nome do Estado, pudessem andar tranquilamente nas ruas com a certeza de que jamais seriam responsabilizados pelos seus crimes. Nesse sentido, não é possível falar em dois lados equivalentes.
O deputado federal Filipe Barros (PSL-SP), novo integrante da Comissão de Mortos e Desaparecidos, declarou recentemente que o órgão “agiu por ideologia”. As denúncias de aparelhamento das comissões da verdade e outros instrumentos da justiça de transição são recorrentes entre esse grupo político. Você discorda?
As três comissões que existiram sobre a temática [Mortos e Desaparecidos, Anistia e Verdade] foram criadas por lei, aprovadas de maneira quase consensual no Congresso Nacional, e em processos de negociação nos quais os diferentes governos que as propuseram sempre cederam em pontos considerados importantes, por exemplo, pelas vítimas e familiares. Logo, essas comissões que eles chamam de aparelhadas sempre foram vistas por parte da sociedade civil e das vítimas como mecanismos extremamente limitados, exatamente porque produzidas num contexto de negociação.
A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, por exemplo, tem uma representação do Ministério da Defesa na sua composição prevista em lei. Quando houve a proposta de criação da Comissão Nacional da Verdade, no Terceiro Programa de Direitos Humanos, a proposta era a criação de uma Comissão da Verdade e da Justiça. Foi a pressão do então ministro da Defesa Nelson Jobim, vocalizando a perspectiva das Forças Armadas, que criou um conflito dentro do governo, especialmente com o então ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos Paulo Vanucchi, fazendo com que a dimensão da justiça fosse afastada da iniciativa, retirando esse caráter jurisdicional.
São comissões estruturadas a partir das normativas do Direito Internacional, dos direitos humanos e da justiça de transição. A CNV foi muito elogiada por organismos multilaterais, pesquisadores da área, acadêmicos e organizações internacionais pelo fato de trazer um texto legal dos mais modernos e ancorados nessas perspectivas. Logo, não há que se falar em aparelhamento.
O fato é que essas comissões foram criadas, sim, para investigar violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade promovidos por agentes do Estado. O Brasil não inventou comissões da verdade ou justiça de transição. Mundo afora, a perspectiva fundamental é investigar os crimes promovidos pelo Estado. Seria inconcebível se alguém propusesse, na Alemanha, que fossem investigados de forma equivalente a violência do nazismo e o levante do Gueto de Varsóvia, por exemplo. São duas dimensões incomparáveis.
A composição e atuação desses mecanismos não seguiu critérios políticos?
Quem está aparelhando essas comissões, na verdade, é o Bolsonaro. Ele é que não está cumprindo o que é previsto na lei ao nomear pessoas que não têm capacidade técnica, relação com o tema e são claramente parciais para assumir essas posições. Essas nomeações, que são ilegítimas e ilegais, contrariam o espírito dessas leis aprovadas com ampla maioria ou quase consenso no Congresso Nacional.
Ao longo do processo, foi construído um corpo técnico extremamente qualificado para lidar com essas questões, que trabalhava nessas comissões. A CNV contou com os principais historiadores do Brasil atuando e apoiando a comissão; advogados especialistas no Direito Internacional e direitos humanos compuseram essas comissões; o próprio perfil dos membros da CNV era insuspeito, com pessoas das mais diversas perspectivas políticas e filiações partidárias, que afastam qualquer possibilidade de acusar as comissões de serem revanchistas ou parciais.
Recentemente, a Comissão de Mortos e Desaparecidos vinha implementando, por meio do grupo de trabalho Perus, um processo de análise das ossadas da Vala de Perus ancorado nas principais e mais atualizadas técnicas e normas da antropologia e arqueologia forense. A equipe contava com apoio de cientistas de vários países e quem fazia as análises periciais era um laboratório na Bósnia. Tratava-se de um trabalho de uma capacidade técnica muito profunda.
Uma parcela da população manifesta incompreensão com a necessidade de “remexer o passado”. Por que a investigação de crimes ocorridos há décadas é importante?
O Brasil tem uma história marcada por uma violência muito profunda, em todos os momentos da sua história. Mas a gente preferiu construir a narrativa de que somos um país pacífico. Fomos o país que por mais tempo conviveu com a escravização de mulheres e homens sequestrados do continente africano e trazidos para cá, mas preferimos construir a narrativa de que somos o país da democracia racial.
Nós convivemos por 21 anos com a ditadura, a tortura institucionalizada, execuções sumárias e desaparecimentos forçados, mas preferimos construir a narrativa de que uma anistia supostamente recíproca seria capaz de deixar isso de lado, porque teria sido um momento de radicalismo de ambos os lados. Essa ideia de remexer o passado como algo ruim é muito forte, não só com relação ao passado da ditadura de 64.
Acontece que essa opção por não falar, não lembrar, claramente não tem dado resultados positivos. Nós continuamos convivendo com a violência, o racismo, o extermínio de jovens negros e moradores de favelas. O silêncio sobre o passado certamente nos ajudou a chegar a essa situação dramática. Se tem setores da sociedade que preferiram apostar no esquecimento, o fato é que algumas figuras, na verdade, nunca deixaram de disputar a memória do que foi a ditadura.
Falo explicitamente do Bolsonaro. Ele sabe muito bem a importância de disputar a memória. Sabe que falar do passado não tem a ver com consolidar uma versão sobre o que aconteceu, mas com quais valores a gente quer afirmar no presente e qual futuro construir. Ele quer construir uma sociedade que aceita a tortura, o extermínio, a violência de Estado e, para isso, sabe a importância de negar que tenha existido escravidão e a gente tenha vivido uma ditadura brutal.
Portanto, os setores ligados a essa memória apologética da ditadura, que sempre tiveram no Bolsonaro a figura que vocalizava essa perspectiva no parlamento, jamais deixaram de disputar a memória. Isso é um alerta para quem, agora, vê a situação a que chegamos e achando inadmissível que a gente conviva com um presidente que faz homenagem pública a um torturador.
Para reverter esse quadro, é fundamental que a gente assuma com cada vez mais força e profundidade a bandeira da memória, em um lugar de crítica radical ao que foi, à ditadura, à escravidão e ao nosso passado de violência, para que a gente possa superar essas visões que atenuam nossos passados traumáticos, para finalmente criar condições para uma sociedade que aponte para um presente e futuro mais democráticos.
_
A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas.
Imagem: MPF